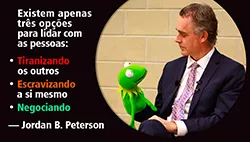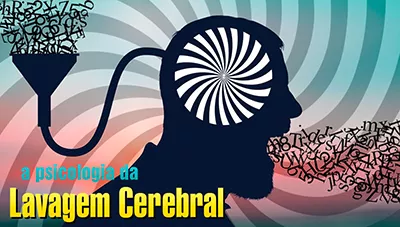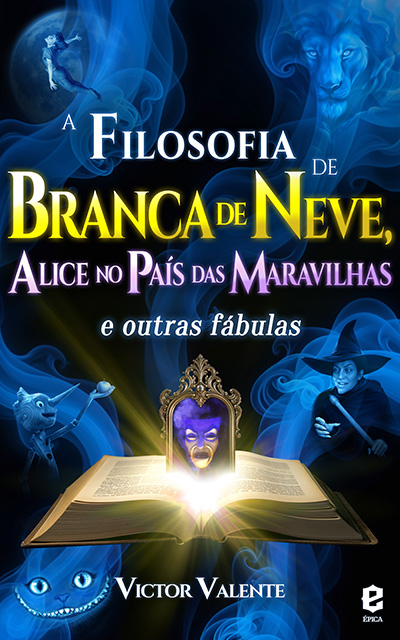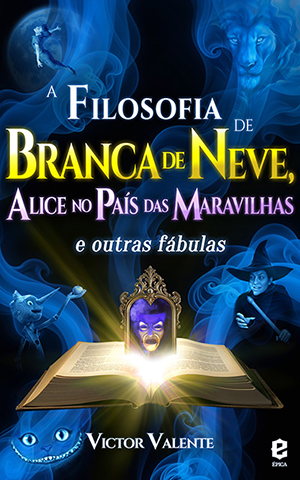Eles se casaram. Chegou ao fim a marcha nupcial. Os pombos bateram asas. Garotinhos com casacos de Eton jogaram arroz; no meio do caminho saracoteou um fox terrier; e Ernest Thorburn conduziu sua noiva ao carro por entre o pequeno e inquisitivo aglomerado de completos estranhos que sempre se forma em Londres para desfrutar da felicidade ou infelicidade dos outros. Por certo ele tinha boa aparência e ela aparentava ser tímida. Mais arroz foi jogado e o carro partiu.
Isso foi na terça-feira. Hoje era sábado. Rosalind tinha de acostumar-se ainda ao fato de agora ser Mrs. Ernest Thorburn. Talvez nunca se acostumasse ao fato de ser senhora Ernest Fosse-o-que-fosse, pensava ela, sentada na janela arcada do hotel que dava para o lago e as montanhas, esperando seu marido descer para o café. Era difícil se acostumar a um nome como Ernest. Não, não era o nome de sua preferência. Se pudesse, teria escolhido Timothy, Antony ou Peter. Além do mais ele não tinha cara de Ernest. Tal nome sugeria o Albert Memorial, móveis de mogno, gravuras em metal do príncipe consorte e família — em suma, a sala de jantar da sogra dela em Porchester Terrace.
Mas aí vem ele. Graças a Deus ele não tinha cara de Ernest — não. Mas então cara de quê teria? Com olhares de soslaio, ela pôde observá-lo. Bem, assim, comendo torrada, parecia um coelho. Não que outra pessoa fosse ver semelhança com uma criatura tão diminuta e tímida naquele rapagão musculoso e guapo, de nariz reto, olhos azuis e boca bem talhada. Mas por isso é que era mais divertido ainda. Quando comia, o nariz dele tremia um pouco. Tal e qual o coelho de estimação que Roselind tinha. Observou-o com tão grande insistência, o nariz que tremia, que acabou tendo de explicar, quando ele a surpreendeu olhando-o, por que sorria.
"É porque você parece um coelho, Ernest", disse ela. "Um coelho selvagem", acrescentou, olhando para ele. "Um coelho caçador; o rei dos coelhos; um coelho que faz leis para todos os demais."
Ernest não ligou de ser tomado por um coelho dessa espécie e, como ela se divertia tanto vendo o nariz dele tremer — sem que ele soubesse até então que seu nariz tremia —, ele o fez tremer de propósito. E ela riu a mais não poder; e ele riu também, de modo que as moças solteiras e o pescador e o garçom suíço de jaleco preto ensebado, todos adivinharam certo; eles eram muito felizes. Mas quanto tempo dura essa felicidade? perguntavam-se eles próprios; e cada qual respondia de acordo com suas próprias circunstâncias.
Na hora do almoço, sentada numa moita de urze à beira do lago, "Quer alface, coelho?", disse Rosalind, exibindo a verdura que havia sido levada para comer com os ovos cozidos. "Vem pegar na minha mão, vem", acrescentou, e ele se esticou todo, deu dentadinhas na alface e fez seu nariz tremer.
"Coelho bonzinho, coelho bonito", dizia ela, alisando-o como costumava alisar seu bicho domesticado em casa. Mas era um absurdo. Ele, fosse lá o que fosse, não era um coelho domesticado. Ela então tentou chamá-lo em francês: "Lapin". Mas ele, fosse lá o que fosse, também não era um coelho francês. Era pura e simplesmente inglês — nascido em Porchester Terrace, educado em Rugby; atualmente funcionário do serviço público de Sua Majestade. Assim, a seguir, ela tentou "Coelhinho"; mas foi ainda pior. "Coelhinho" era alguém gordinho e fofo e gozado; ele era magro e duro e sério. Apesar disso, seu nariz tremia. "Lappin", exclamou ela de repente; e deu um gritinho como se tivesse encontrado a palavra exata que vinha procurando.
"Lappin, Lappin, rei Lappin", repetia. Parecia encaixar-se nele à perfeição; ele não era Ernest, era o rei Lappin. Por quê? Ela não sabia.
Quando não havia nada de novo sobre o que conversar, em seus longos passeios solitários — e chovia, como todos lhes tinham dito que ia chover; ou quando eles sentavam de noitinha à lareira, pois fazia frio, tendo as moças solteiras e o pescador se retirado e só vindo o garçom se se tocasse o sino, ela deixava sua imaginação brincar com a história da tribo de Lappin. Em suas mãos — ela estava costurando; ele estava lendo — seus integrantes se tornavam muito reais, muito vívidos, muito engraçados. Ernest largou seu jornal para ajudá-la. Havia coelhos pretos e coelhos vermelhos; havia amigos e inimigos. Havia a mata na qual eles viviam e as campinas em volta e o charco. Acima de tudo havia o rei Lappin, que, longe de apenas ter um tique — o de tremer o nariz —, tornou-se com a passagem do tempo um animal de grande reputação; Rosalind sempre encontrava novas qualidades nele. Mas acima de tudo era um grande caçador.
"E o que foi", perguntou Rosalind, no último dia da lua de mel, "que o rei fez hoje?"
Na realidade eles dois, o dia todo, tinham subido morros; e ela ficara com uma bolha no calcanhar; mas não era isso que tinha em mente.
"Hoje", disse Ernest, fazendo o nariz tremer enquanto abria nos dentes a ponta de seu charuto, "ele caçou uma lebre". Fez uma pausa; riscou um fósforo e seu nariz tremeu de novo.
"Uma lebre mulher", acrescentou.
"Uma lebre branca!", exclamou Rosalind, como se já contasse com isso. "Uma lebre um tanto pequena; cinza-prateada; de olhos grandes e brilhantes?"
"Sim", disse Ernest, olhando para ela como ela o olhava, "um bichinho assim; de olhos saltando para fora das órbitas e com as duas patinhas dianteiras balançando no ar". Era exatamente assim que ela sentava, com sua peça de costura balançando nas mãos; e seus olhos, tão grandes e brilhantes, eram por certo algo proeminentes.
"Ah, Lapinova", murmurou Rosalind.
"É assim que ela se chama?", disse Ernest, "a Rosalind real?" Sentindo-se profundamente apaixonado, não parava de olhar para ela.
"Sim; é assim que ela se chama", disse Rosalind. "Lapinova." E antes de irem para a cama, nessa noite, ficou tudo resolvido. Ele era o rei Lappin; ela, a rainha Lapinova. Eram o completo contrário um do outro; ele, decidido e audacioso; ela, desconfiada e insegura. Ele governava o atarefado mundo dos coelhos; já o mundo dela era um lugar desolado, misterioso, que ela percorria pincipalmente ao luar. De todo modo, seus territórios se tocavam; eram rei e rainha.
Ao voltarem de sua lua de mel, eles assim já possuíam um mundo particular, habitado apenas, com a exceção da lebre branca, por coelhos. Ninguém adivinhava a existência desse lugar, o que decerto tornava a coisa ainda mais divertida. Era algo que os fazia sentir-se, mais ainda do que a maioria dos jovens casais, em aliança contra o restante do mundo. Não raro trocavam irônicos olhares quando as pessoas falavam de coelhos e matas e armadilhas e caça. Trocavam-se piscadelas furtivas pela mesa quando tia Mary dizia que era incapaz de aguentar ver uma lebre num prato — parecia tanto um bebê: ou quando John, o irmão brincalhão de Ernest, disse-lhes a que preços os coelhos chegavam, nesse outono, com pele e tudo, em Wiltshire. Os dois, às vezes, se necessitassem de um guarda-caça, de um caçador ilegal ou de um Senhor do Solar, divertiam-se distribuindo os papéis entre seus amigos. A mãe de Ernest, Mrs. Reginald Thorburn, por exemplo, encaixava-se à perfeição no papel de Proprietária Rural. Mas tudo isso era segredo — e isso é que era bom. Ninguém a não ser eles sabia que esse mundo existia.
Sem esse mundo, como, perguntava-se Rosalind, teria ela sobrevivido àquele inverno? Houve, por exemplo, a festa de bodas de ouro, quando todos os Thorburn se reuniram em Porchester Terrace para celebrar o quinquagésimo aniversário daquela união tão abençoada — não havia ela gerado Ernest Thorburn? e tão fecunda — não gerou de quebra nove irmãos e irmãs, muitos deles casados e igualmente fecundos? Ela temia aquela festa. No entanto foi inevitável. Já quando ia escada acima possuiu-a o amargo sentimento de ser filha única e além do mais órfã; uma simples gota entre todos aqueles Thorburn reunidos na grande sala de visitas onde brilhavam o papel de parede acetinado e os ilustres retratos da família. Os Thorburn vivos pareciam-se muito com os retratados; só que, em vez de lábios pintados, tinham lábios reais; dos quais saíam casos gozados; casos sobre as horas de estudo, sobre como tinham puxado a cadeira para a governanta cair; casos sobre sapos, sobre alguém ter posto um sapo entre os virgens lençóis de moças solteiras. Quanto a ela, nunca sequer arrumou a cama direito. Segurando seu presente na mão, avançou para sua sogra, suntuosa num cetim amarelo; e para seu sogro, decorado com um rico cravo amarelo. Ao seu redor espalhavam-se tributos de ouro sobre mesas e cadeiras; uns aninhando-se em lã de algodão; outros esgalhando-se resplandecentes — candelabros; caixas de charutos; correntes; todos com a declaração do ourives gravada de que era ouro do bom, certificado, autêntico. Mas o presente dela era apenas uma caixinha de pechisbeque com um crivo; um antigo espalhador de areia, uma relíquia do século XVIII, usado para aspergir areia sobre tinta molhada. Um presente, pensava ela, meio sem sentido — numa época de papel mata-borrão; e, ao oferecê-lo, viu pela frente a letra negra e grossa na qual sua sogra tinha expressado a esperança, quando eles se comprometeram, de que "Meu filho a fará feliz". Não, feliz ela não era. Nem um pouco. Olhou para Ernest, reto que nem uma vareta, com um nariz igual a todos os narizes dos retratos da família; um nariz que não tremia nunca.
Depois desceram para o jantar. Ela ficou meio escondida pelos crisântemos cujas pétalas vermelhas e amarelas se apertavam caindo em grandes cachos. Era tudo de ouro. Um cartão debruado a ouro com iniciais entrelaçadas em ouro declinava a lista das delícias que, uma após outra, seriam postas diante deles. Num prato de claro fluido de ouro ela mergulhou a colher. E até a bruma branca e em bruto de fora foi transformada por lâmpadas num emaranhado dourado que se refletia nas beiradas dos pratos e dava aos abacaxis uma casca áspera e áurea. Somente ela, em seu vestido branco de casamento, olhando em frente com seus olhos proeminentes, parecia insolúvel como um pingente de gelo.
Ao prolongar-se o jantar, contudo, o calor se propagou pela sala. Formavam-se gotas de suor na testa dos homens. Seu pingente, ela sentiu, estava virando água. Ela estava derretendo; dispersava-se; dissolvia-se em nada; e ia desmaiar dentro em pouco. Então, por entre a compressão na cabeça e a algazarra em seus ouvidos, ela ouviu a voz de uma mulher que exclamava: "Mas é assim que eles procriam!"
Os Thorburn — sim; é assim que eles procriam, repetiu ela; olhando para todos os rostos redondos e vermelhos que, na vertigem que a dominava, pareciam duplicar-se; e magnificar-se na neblina dourada que os aureolava. "É assim que eles procriam." A essa altura John berrava:
"São uma praga!... É bala neles! É esmagá-los no tacão da bota! É a única maneira de enfrentar esses bichos... os coelhos!"
A essa palavra, a essa palavra mágica, ela reviveu. Espiando por entre os crisântemos, viu o nariz de Ernest tremer, enrugar-se um pouco e voltar a tremer sucessivas vezes. Nisso uma misteriosa catástrofe se abateu sobre os Thorburn. A mesa dourada tornou-se uma charneca com o tojo em plena floração; a algaravia das vozes reduziu-se a um ressoar de riso de cotovia pelo céu. Era um céu azul — nuvens passavam lentamente. E eles, os Thorburn — todos eles mudaram. Ela olhou para o sogro, homenzinho furtivo de bigode pintado. Seu fraco era colecionar coisas — selos, caixinhas esmaltadas, bugigangas de toucador do século XVIII que ele escondia da esposa nas gavetas do seu gabinete. Nesse instante ela o viu como ele era — um caçador ilegal, que se esgueirava, com os faisões e perdizes que furtou a lhe estufar o capote, para às escondidas jogá-los num caldeirão de três pernas em seu enfumaçado casebre. Era este o seu sogro verdadeiro — um caçador em terra alheia. E Celia, a filha solteira, que vivia se intrometendo nos segredinhos dos outros, nas coisas que queriam manter ocultas — ela era um furão branco de olhos avermelhados, com restos de terra no focinho provindos de seu horrível fuçar e bisbilhotar subterrâneo. Apoiada em ombros de homens, numa rede, e enfiada por um buraco abaixo — era uma vida lamentável — a de Celia; não por culpa dela. Foi assim que ela viu Celia. Depois olhou para sua sogra — que eles chamavam de Proprietária Rural. Corada, grosseira, arrogante — sim, tudo isso ela era, ali em pé retribuindo agradecimentos, mas agora que Rosalind — isto é, Lapinova — a via, via por trás dela a mansão familiar decadente, o emboço descascando nas paredes, e a ouvia dar graças, com um soluço na voz, a seus filhos (que a detestavam) por um mundo que já havia deixado de existir. Houve um súbito silêncio. Todos se postaram com seus copos erguidos; todos beberam; depois tudo se acabou.
"Oh, rei Lappin!", gritou ela, quando já iam para casa, juntos, no nevoeiro, "se o seu nariz não tivesse tremido bem naquele momento, eu cairia na armadilha!"
"Mas você está salva!", disse o rei Lappin, apertando-lhe a patinha. "Totalmente", respondeu ela.
E assim de novo eles atravessaram o parque, rei e rainha dos brejais, da neblina e da charneca perfumada de tojo.
E assim se passou o tempo; um ano; dois anos. E numa noite de inverno, que por coincidência caiu no aniversário da festa de bodas de ouro — mas Mrs. Reginald Thorburn estava morta; a casa, para alugar; e havia apenas um zelador morando lá —, Ernest, vindo do escritório, chegou em casa. Era uma casinha agradável, a deles; a metade de uma casa por cima da loja de um seleiro em South Kensington, não muito longe da estação do metrô. Fazia frio, com neblina no ar, e Rosalind estava sentada à lareira, costurando.
"Sabe o que aconteceu comigo hoje?", começou ela, tão logo ele se instalou ao calor esticando as pernas. "Eu estava atravessando o riacho, quando..."
"Que riacho?", interrompeu Ernest.
"O riacho do fundo, onde nossa mata se encontra com a mata negra", explicou ela.
Ernest parecia ter ficado perplexo.
"De que diabo você está falando?", perguntou.
"Ernest, meu querido!", ela gritou consternada. "Rei Lappin", acrescentou, balançando à luz do fogo suas patinhas dianteiras. Mas o nariz dele não tremeu. E as mãos dela — voltando a ser mãos — agarraram-se ao pano que ela segurava; seus olhos quase saltaram da cabeça. Ele levou ao menos cinco minutos para mudar, para passar de Ernest Thorburn a rei Lappin; e ela, enquanto esperava, sentia um peso na nuca, como se houvesse alguém a ponto de lhe torcer o pescoço. Finalmente ele virou o rei Lappin; seu nariz tremeu; e eles passaram a noite, como de hábito, pervagando pelas matas.
Ela porém não dormiu bem. Acordou no meio da noite, sentindo que alguma coisa estranha lhe tinha acontecido. Estava enrijecida e fria. Acabou acendendo a luz e, quando olhou para Ernest a seu lado, ele dormia a sono solto, roncando. Mas, muito embora roncasse, seu nariz se mantinha completamente imóvel. Dava aliás a impressão de nunca ter se mexido. Seria possível que aquele fosse realmente o Ernest; e que ela realmente fosse casada com um Ernest? Surgiu-lhe pela frente uma visão da sala de jantar de sua sogra; e lá sentavam-se eles, ela e Ernest, envelhecidos, por baixo das gravuras, diante do aparador... Era o dia de suas bodas de ouro. E ela não conseguia aguentar.
"Rei Lappin, rei Lappin!", sussurrou, e por um momento o nariz dele pareceu tremer por moto próprio. Mas ele mesmo continuava dormindo. "Acorde, Lappin, acorde!", gritou ela.
Ernest acordou; e, ao vê-la sentada assim, tão tensa e reta a seu lado, perguntou:
"Que foi que houve?"
"Pensei que meu coelho tinha morrido!", choramingou ela. Ernest se aborreceu.
"Não diga uma bobagem dessas, Rosalind", disse ele. "Deite-se e volte a dormir."
E virou de costas. Mais um momento e já estava dormindo fundo e roncando.
Ela porém não conseguia dormir. Enroscava-se em seu lado da cama como uma lebre em sua forma. Tinha apagado a luz, mas a lâmpada da rua clareava ligeiramente o teto, sobre o qual as árvores de fora compunham uma trama rendada, como se houvesse nele um arvoredo sombrio pelo qual ela vagava, entrando e saindo, dando voltas e mais voltas, desorientando-se, caçando e sendo caçada, ouvindo as trombetas e os latidos dos cães; fugindo, escapando... até a empregada abrir as cortinas e lhes trazer o chá da manhã.
No dia seguinte ela não foi capaz de fixar-se em nada. Parecia ter perdido uma coisa. Sentia-se como se seu corpo tivesse encolhido; como se, além de menor, ele estivesse duro e preto. Suas juntas também se mostravam rígidas e, ao olhar-se no espelho, o que ela fez várias vezes ao andar pelo apartamento, seus olhos davam a impressão de estar saindo do rosto, como passas que saltam da superfície de um bolo. Também os cômodos pareciam ter encolhido. Grandes peças do mobiliário assumiam relevo em ângulos inesperados, e ela deu consigo a bater de encontro aos móveis. Afinal pôs um chapéu na cabeça e saiu. Foi caminhando ao longo de Cromwell Road; e cada sala por que passava, e na qual dava uma espiada, parecia ser uma sala de jantar onde as pessoas sentavam-se comendo sob gravuras em metal, com cortinas rendadas, amarelas e grossas, e aparadores de mogno. Finalmente chegou ao Museu de História Natural; gostava dali, quando criança. Mas a primeira coisa que ela viu, assim que entrou, foi uma lebre empalhada, de pé sobre neve falsa e com olhos de vidro cor-de-rosa. Um tremor a percorreu de alto a baixo. Ao cair o crepúsculo talvez melhorasse. Ela foi para casa e sentou-se à lareira, sem acender a luz, e tentou imaginar que estava sozinha num matagal; que um riacho corria por ali; e que além do riacho havia a mata escura. Ela porém só ia até o riacho. Finalmente acocorou-se no capim molhado da margem, e se agachou na cadeira na qual estava sentada, com as mãos vazias balançando e os olhos, como se fossem mesmo de vidro, vidrados na luz do fogo. Fez-se então o barulho de uma arma engatilhada... Como se houvesse levado um tiro, ela tremeu. Era apenas Ernest, virando sua chave na porta. Ela esperou, tremendo ainda. Ele entrou e acendeu a luz. Lá estava de pé, alto, bonito, esfregando as mãos vermelhas de frio.
"Sentada no escuro?", disse.
"Oh, Ernest, Ernest!", exclamou ela, levantando-se de sua cadeira.
"Bem, o que foi dessa vez?", perguntou ele com aspereza, esquentando as mãos no fogo.
"É Lapinova...", balbuciou ela, fitando-o tumultuosamente com seus grandes olhos sobressaltados. "Ela se foi, Ernest. Eu a perdi!"
Ernest franziu as sobrancelhas. E apertou bem os lábios. "Oh, então foi isso?", disse ele, sorrindo de um modo algo implacável para sua esposa. Ficou ali, em pé, calado, por dez segundos; e ela esperou, sentindo mãos a apertarem seu pescoço por trás.
"Pois é", disse ele enfim. "Pobre Lapinova..." No espelho em cima da lareira ele endireitou a gravata.
"Caiu numa armadilha", disse ele, "morreu", e sentou-se para ler seu jornal.
E esse foi o fim daquele casamento.