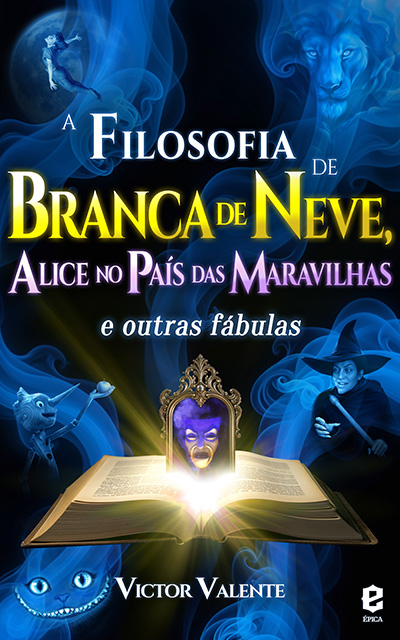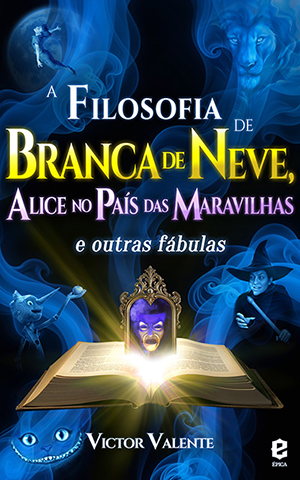O alambrado de três fios, eu no lado de cá esperando a resposta e o velho no de lá, os olhinhos de rato procurando no automóvel qualquer coisa que contrariasse a história do pneu. Perguntou se eu vinha de longe. Ah, Porto Alegre? E espichou o beiço mole. Teria preferido, talvez, que eu viesse de Alegrete ou de Uruguaiana, de Santana ou Quaraí, forasteiro mais a jeito de lindeiro, alguém para prosear sobre tempo e pasto e repartir o chimarrão.
— Bueno, vá passando — disse, de má vontade.
Seguimos por baixo de um arvoredo esparso de cinamomos e alguns ipês maltratados pela geada. A chuva havia parado, o vento não. Soprava forte ainda, sacudia aquelas álgidas ramadas e logo nos enredava numa tarrafa de respingos. Adiante, o rancho que eu vira da estrada, pequenino, tão frágil que era um milagre continuar em pé depois do temporal.
— É casa de pobre — disse o velho.
Telhado de zinco remendado, chão de terra, nas janelas um tipo de encaixe substituía a dobradiça e o vento se enfiava pelas frestas em afiados assobios. De duas peças dispunha. Na da frente, o mobiliário miserável, um jirau com uma velha sela e sobre ela, a dormitar, um casal de pombos. Na outra, tanto quanto eu via, uma lamparina projetando mais sombra do que luz.
Sentamos em cepos na frente do fogão, já bufava na chapa a panelinha e esquentava por trás a chaleira. O velho agarrou a cuia.
— Esses autos... quando mais precisa deixam o cristão a pé.
Experimentou o mate e o primeiro sorvo deitou fora, com uma sonora cuspida ao chão.
— E depois tá carregadito, não? Chibando pra Corrientes?
— São coisas pessoais, minha roupa, meus livros — respondi. — Estou de muda para Uruguaiana. Assentiu, subitamente respeitoso.
— O senhor é doutor de lei?
A menção dos livros o perturbara, talvez confundisse advogados com cobradores de impostos, fiscais, guardas aduaneiros. Tranquilizei-o, não, eu não era nada disso, carregava livros porque gostava deles e gostava tanto que de vez em quando escrevia algum.
Apertou os olhos, interessado.
— É preciso uma cabeça e tanto. Aquele mundaréu de letrinha, uma agarrada na outra...
A tarde se adiantava lá fora. E dentro já escurecia, as brasas do fogão deitando uma curta claridade ao redor e aquecendo nossos pés. Ele tirou da orelha um palheiro pela metade.
— Quando eu era gurizote e trabalhava aí no Urutau — começou —, a filha mais nova do finado Querenciano...
Um ruído na outra peça o fez parar. Alguém espirrara, assoara o nariz, talvez, e ele se mexeu no cepo, inquieto. Apontou para a chaleira.
— Vá se servindo, vou buscar a lamparina.
Aproveitei a ausência dele para dar uma olhada na palma da mão. Durante a conversa a mantivera fechada, pulso sobre o joelho, para não causar outro transtorno ao velho, mas via agora que estivera a sangrar novamente.
Que dia!
Em viagem por toda a manhã e um pedaço da tarde, o desvio da estrada, a chuva torrencial, o pneu furado, o macaco escapando e me cortando a mão... eram aventuras demais para um velho Renault e seu desastrado condutor.
O velho pendurou a lamparina no jirau, os pombos se moveram e logo se aquietaram, juntinhos. Tirou dois pratos do armário, garfos, trouxe a panela para a mesa. Estava carrancudo outra vez.
— Gostaria de lavar as mãos.
Mostrou-me a bacia louçada, num tripé.
— Tenho um pequeno ferimento aqui na mão. É bom lavar.
— Ferimento?
— Foi com o macaco. Aproximou-se.
— É, o macaquito lhe pegou de jeito.
Abriu o armário para revistar as prateleiras, puxou a gaveta da mesa e fechou-a com estrondo, parou debaixo do jirau.
— Não sei onde é que tá essa bosta.
— Que é que o senhor procura?
— A caixa, os remédios que a minha filha tem.
— Por favor, não quero incomodar.
Olhou-me longamente, era a primeira vez que o fazia.
— O senhor não incomoda — disse, com visível esforço.
Um pingo deu no zinco. A chuva ia voltar e o vento persistia, espanejando as paredes com raivosas rabanadas. Ao estalo dos primeiros pingos chegou até nós, de longe, um cacarejo solitário, de perto um bater de asas. Um relâmpago clareou a fresta da janela e o trovão parecia que ia despedaçar o rancho.
— Cumprimente a visita — mandou o velho.
Se não a chamasse por Maria, diria eu que era um rapaz. Cabelos curtos, calças de homem pelo tornozelo e uma camisa branca, suja, remangada, tão larga que não mostrava nem sinal dos seios, sim, diria exatamente isto, que era um rapaz se esforçando para parecer afeminado.
— Boa-noite — disse, num fio de voz.
— Faça um curativo na mão do moço.
Tomou posição à minha frente, tensa, empertigada, a caixinha de remédios no colo. Com água oxigenada e um chumaço de algodão começou a limpar a ferida. Suas mãos tremiam um pouco, mas trabalhavam a contento, devagar, tão delicadas quanto permitia o hábito de não o serem.
— Já não tá limpo isso?
— Ainda não, pai, até barro tem.
O velho se surpreendeu, como se esperasse outra resposta.
— A panela vai de novo pro fogo — anunciou, num resmungo.
Me olhava, me examinava, os olhinhos de rato em perseguição aos meus por onde eles andassem. Que pena, eu pensava, um pobre velho sozinho naquelas lonjuras, decerto sempre a recear que um valente daquelas ásperas estradas chegasse a galope e carregasse a chinoca Maria na sua garupa. Eu o compreendia, simpatizava com sua causa, mas nem por isso o contato daqueles dedos proibidos deixava de me deliciar, um pequeno prazer que me concedia naquele fim de tarde, transgressão não criminosa das leis da casa. A ideia era velhaca, me fez sorrir e olhei de novo para o velho. Ele ainda me observava e alguma coisa em mim o descansou. Porque me viu sorrir, talvez, apenas sorrir ao toque daquelas mãos de que tanto se enciumava. Pensou, talvez, no escritor que eu era, no homem de cabeça grande, um sujeito assim jamais fugiria com sua menina. Sorriu também e pegou no armário o terceiro prato de nossa janta.
Eu estava esfomeado, o velho loquaz.
— O moço aí é um escritor de livros — disse ele a Maria, sem disfarçar um estranho orgulho. Maria comia em silêncio e ele acrescentou:
— Um doutor.
— Eu apenas escrevo histórias.
— Histórias? — repetiu, algo decepcionado. — Como as do Jarau?
— Mais ou menos isso. Ele encolheu os ombros.
— De qualquer maneira é preciso...
— Uma cabeça e tanto.
— Taí, me tirou da boca — disse ele, satisfeito.
O feitio da conversa me comprazia e fui adiante: a cabeça ajudava, por certo, mas, mais do que a cabeça, valia o coração.
— É preciso compreender as pessoas, gostar delas. Um escritor sempre pensa que vai salvar alguém de alguma coisa.
O velho não soube o que dizer, pigarreou, mas Maria me fitava intensamente, como se recém me tivesse descoberto no outro lado da mesa, ao alcance da mão. E vendo Maria me olhar, vendo aqueles olhos tão escuros, tão grandes, ardentes, fixos em mim... oh, algo muito forte palpitava dentro dela, uma ansiedade, um desejo oculto, uma súplica feroz, e tudo, de algum modo, parecia estar ligado à minha pessoa.
Chovia ainda e os pombos, agitados, tinham trocado de lugar. O velho agora dava indicações da região, dizia que, por engano, eu tomara certo Corredor do Inferno, na vizinhança do Arroio Garupá, município de Quaraí. Que o Posto da Harmonia não era longe e o assunto do macaco se resolveria na manhã seguinte, com o leiteiro.
— Nunca passa um carro por aqui?
— É que agora mudaram o caminho.
Maria baixava os olhos, uma garfada sem vontade na comida, um gesto perdido, um tremor nos lábios. O velho prosseguia. Contou que naquelas bandas ficavam os campos do velho Querenciano, homem muito rico que, ainda vivo, dera tudo para os filhos. E já me chamava de compadre.
— Isso tudo aqui, compadre, era a Estância do Urutau, cento e tantas quadras de sesmaria. Agora tá tudo repartido pela filharada.
Sanga dos Pedroso, Coxilha da Lata, Chácara Velha, Passo do Garupá, ia desfiando nomes que lhe eram caros e a crônica de seus antigos afazeres — caça ao gado xucro nas sesmarias do Urutau, os rodeios, as marcações, tropeadas ao Plano Alto e ao Passo da Guarda —, monologava quase, devia fazer um tempão que não se abria assim. E tão especial lhe parecia a ocasião que foi buscar no armário uma garrafa de cachaça.
— Isso aviva os recuerdos — explicou.
Em seguida começou a exumar velhas histórias, queixas amargas contra os estancieiros que por quarenta anos o tinham procurado nas horas de aperto e que agora, na velhice, deixavam-no de lado, como um rebenque velho. Embebedava-se. Me confessou, com lágrimas nos olhos, que um neto do finado Querenciano tentara "fazer mal pra guria", e não o conseguindo, marcara-lhe a coxa com um guaiacaço. Maria baixava os olhos, ruborizando.
— Já cavei a sepultura dele — rosnou o velho, as mãos crispadas de violência.
Sua língua pouco a pouco se tornava mais pesada, já quase não podia com ela e não era fácil entendê-lo. Sem demora derrubou a cabeça na mesa, completamente embriagado.
— Vamos colocá-lo na cama — eu disse, tão docemente quanto pude. — Ele não devia beber assim, faz muito mal.
— Ele nunca bebe. A última vez foi quando a mãe morreu.
Na outra peça havia um catre e uma velha cama forrada de pelegos. Acomodei-o na cama, ele fez uma careta, tossiu, pelo canto da boca escorria um fio de baba.
Maria mudou a água da bacia e começou a lavar os pratos, eu me sentei perto do fogão para manter os pés aquecidos e fumar um cigarro. Observava-a. Estava interessado nela, queria saber alguma coisa a seu respeito, compreender aquele momento em que, como alucinada, me cravara os olhos. Mas meu desejo de melhor conhecê-la não era tão grande quanto o receio de apenas abrir o tampão de suas emoções e depois não saber o que fazer com elas. Não, talvez fosse melhor nem dormir ali. Talvez fosse melhor pensar noutras coisas. Nas complicações do fim da viagem, por exemplo. Precisava alugar uma casa, comprar móveis, providências que sempre me embaraçavam. E tentava pensar nisso, contrafeito, quando me dei conta de que já não ouvia o barulho dos pratos. Maria me olhava, imóvel ao lado da bacia.
— Vou fazer a cama do senhor perto do fogão.
— Não precisa — eu disse —, vou dormir no carro.
— Mas o pai falou... vai fazer frio lá fora, aqui de noite a gente gela.
— Talvez não faça tanto.
Passou a mão na mesa, recolhendo farelos de pão.
— O pai falou que o senhor queria pouso.
— Ele não vai se importar, garanto.
— Ele pode achar que tratei o senhor mal. Juntou as mãos, apertando-as.
— O senhor sabe? Aqui de noite a gente ouve o urutau, parece o gemido de um boi morrendo.
E o vento vibrava nas abas do zinco. Junto à porta, então, era como fora, a umidade se alojando nos ossos da gente. E no entanto eu transpirava. Queria sair, mas estava preso ao chão.
— Prometo que amanhã a gente vai conversar bastante.
Destranquei a porta. Ela nada disse, olhava furtivamente para sua própria roupa e eu a contemplava com um ridículo nó na garganta, pensando, agora sim, pensando no que, decerto, não quisera pensar antes, nas manhãs dela de fogão e braseiro, nas tardes de panelas gritadeiras, nas noites, o sonho dela ganhando a estrada pelas frestas da janela, ganhando o campo, o arroio, os bolichos do arroio e as canchas de tava para pedir, a medo, um gesto de carinho aos bombachudos. Eu ia pensando e a fitava, pobre avezinha perdida nos confins de um mundo agônico. Por que eu?, eu me perguntava. O velho bebera novamente depois de tanto tempo. Por que eu? Eu trazia uma nova ordem para dentro de casa, sedutora quem sabe, mas não nutrida da velha, distante da velha, oposta àquele mundo compacto não dilacerado pela cidade e pelo asfalto das novas estradas. Eu poderia romper um elo da frágil corrente que o sustentava. Depois, que aconteceria? E no entanto eu não me movia, não saía e estava ali, como um moirão fincado, querendo ser o que ela queria que eu fosse.
E tranquei de novo a porta.
Ficaria, sim. Por meu coração eu ficaria. Havia dito que um escritor precisava compreender as pessoas, gostar delas. Não, não devia generalizar, não devia falar senão por mim mesmo. Compreender, amar, no meu amor jamais coubera uma retirada, ainda que em nome de alguma consciência.
Ela trouxe o catre, estava radiante e não sabia.
— Perto do fogão fica quentinho a noite toda. E se o senhor quiser posso botar uma carona na janela pra tapar essa buracama.
— Ah, isso é importante. Não vamos deixar entrar nenhum ventinho.
— Nem o canto do urutau.
— Melhor ainda.
— Vou atiçar as brasas, posso? O pai vai ficar contente de saber que o senhor dormiu aqui.
— Eu sei que vai.
Me sentei no catre e ela se aproximou, apalpando-o.
— Não quer mais um pelego?
— Obrigado, está bem macio.
— Se quiser é só pedir.
— Pode deixar, eu grito: "Maria, outro pelego". Sorriu, esfregou as mãos.
— Tenho o sono bem leve.
— Como a pluma.
— Senhor?
Passou a mão no cabelo curto. Tirou a lamparina do jirau, colocando-a na mesa. De volta à velha sela os pombos dormitavam, juntinhos.
— Sabe como apaga?
— Ffff.
— É, aí ela apaga.
Sorriu de novo, seus olhos não cessavam de buscar os meus.
— Maria.
Ela me olhou, hesitante.
— Quer... quer mais um pelego?
Levantei o braço, toquei-lhe o queixo e ela se encolheu. Tomei-lhe a mão, ela virou o rosto e em seguida se desprendeu, assustada, ofegante. Um soluço a sacudiu por inteiro e ela correu para o quarto onde estava o velho.
Me levantei, soprei a lamparina. Descalcei as botas. Deitado, aticei as brasas e acendi mais um cigarro. Era bom ouvir lá fora o vento, ouvir a chuva no zinco sem parar. E acima desse ruídos todos ouvi um mugido pungente que parecia brotar das entranhas da terra. Sim, senhor, então no Garupá, no Corredor do Inferno, tínhamos um urutau mugidor? Sorri, contente comigo mesmo. Me cobri com o pelego. Havia muito o que pensar, mas me sentia tranquilo. Me sentia feliz. Sempre soubera que o verbo amar tinha várias maneiras de ser conjugado, uma delas sempre serviria para tornar menos doloroso aquele elo partido. Apaguei o cigarro na terra. Esperei. Ela voltou devagarinho e no escuro se deitou comigo. Estivera chorando, claro, e ainda fungava um pouco.
— Ouviu o urutau? — perguntou, num sussurro.
— Não era urutau nenhum, era um boi — eu disse, e achei que nossa noite estava começando muito bem.