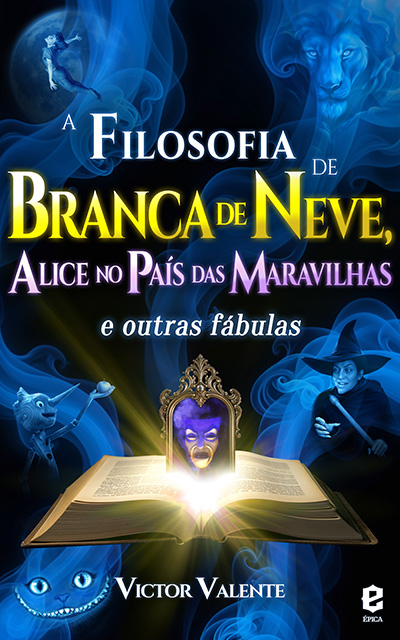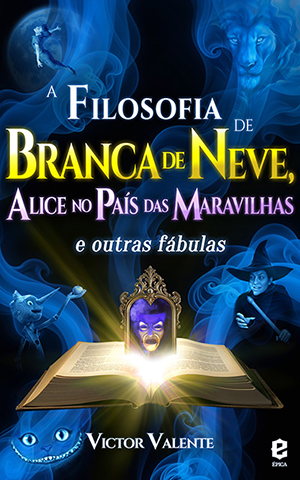Certa vez eu voltava para casa numa noite de névoa e frio, arrastando pela calçada suburbana meu corpo aquecido pelo vinho. Trazia na mão, a picar nas pedras, minha bengala de rengo, na outra um pequeno embrulho com as sobras da janta num bar enfumaçado. À curta distância do sobrado onde morava avistei um vulto na soleira de uma porta, como um cão que dormisse ao relento, vulto que não se movia e que em dado momento se me afigurou como apenas uma mancha nas tábuas da porta. Ao confrontá-lo no passeio oposto me aconteceu ouvi-lo e eu jamais soubera que cães vadios pudessem soluçar.
Atravessei. Na soleira, encolhida, estava uma criança. Com as picadas da bengala ela ergueu apressadamente o rosto, descobrindo-o para a tênue claridade da luminária distante. Era uma menina. Daquelas meninas que às vezes você vê na rua e que te abordam, te tocam no braço, "dá um troquinho, tio" e aparecem e desaparecem misteriosamente, como os cães vadios.
Naquele bairro e naquela rua viam-se com frequência adolescentes extraviados e até crianças que vinham esmolar na porta do cinema. Eu nada podia fazer por eles, nada era, nada tinha senão aquele sobrado que fora do meu avô e agora estava em ruínas, pertencendo mais aos ratos do que a mim. Nada podia fazer, exceto vê-los e me compungir e depois vê-los de novo, todas as noites, na frente do cinema ou a perambular em grupos pelas ruas escuras. Mas há uma diferença entre ver crianças a vagar como sem destino e ouvir uma garotinha a chorar no teu caminho, sozinha na noite e como à tua espera.
Me aproximei, toquei no seu braço e ela recuou no degrau, triste e desengonçada figurinha: sapatos sem meias, rotos, perninhas juntas, vestidinho fino, cabelos escorrendo da touca de bolinha e olhos muito abertos que tinham medo e faziam perguntas.
— Não — eu disse, mansamente —, não precisas ter medo, não vou te fazer mal.
E disse-lhe ainda que gostaria de ajudá-la. Por que chorava? Por que estava sozinha numa noite como aquela? E acaso pretendia dormir ali, num degrau de porta? Fitava-me, e quando respondeu o fez timidamente, quase a sussurrar. Sim, ia passar a noite ali e estava bem, a porta era funda.
— Não podes fazer isso — tornei —, vais adoecer e é perigoso. Por que não vens comigo? Eu moro naquele sobrado, é grande e tem lugar bastante.
Ela olhou para o sobrado, adiante, no outro lado da rua, e sem querer olhei também. Reconhecia que o convite não era muito sedutor. A parede já guardava poucos sinais do antigo reboco, e se as janelas do segundo piso ainda tinham alguns vidros, as do térreo eram apenas esqueletos com buracos negros. Ao lado, o portão quebrado, o macegal, um monte de caliça, um tonel virado. Mas a menina não se assustou com aquela imagem da ruína e aceitou partilhar comigo uma noite de destroços.
Estendi a manta na peça que um dia fora a sala e agora era depósito da farmácia que havia defronte, o magro aluguel que me sustinha. Dei-lhe a merenda que trazia e ela comeu vorazmente antes de deitar-se. Estava frio ali, estava úmido, e perto das janelas, então, era como andar na rua. Tentei cobrir os buracos com papelão de caixas vazias, mas não havia bastante e aqueles que eu colocava logo se desprendiam. Desisti, pensando que ao menos ela tinha uma coberta e estava dentro de uma casa.
Subi. Passava das onze e eu estava exausto, com dores na perna enferma. Deitei-me na cama de casal que pertencera a meu avô, cobri-me com uma velha colcha e sentia tanto frio que não podia dormir. Devia ter tomado mais vinho, pensava, e me encolhia e tiritava debaixo da colcha, quase arrependido de ter cedido a manta. E pensava na menina e num resto de aguardente que havia na cozinha, e pensava na manta e num cobertor de uma vitrina, e pensava noutras coisas e pensava só por pensar, para enganar o frio, e apertava os dentes e esfregava os pés quando ouvi um estalido de madeira, depois outro, suaves barulhinhos cada vez mais próximos e muito delicados naquele lugar onde o silêncio, não raro, era rompido por desastradas correrias de ratos. Eram passinhos na escadaria, pezinhos descalços e receosos galgando os mesmos degraus que meu avô costumava golpear com suas botas de taco ferrado. Esperei, e como nada mais ouvisse, liguei a luz. Minha hóspede estava parada na porta do quarto, com a manta nos braços.
— Não dormes?
Fez que não e continuou imóvel. Se queres, tornei, podes ficar aqui, não me importo, e logo imaginei acomodá-la ao lado da cama, talvez deixar a luz acesa, e pensei depois que não, que aquela manta me fazia muita falta e não havia mal algum que ficássemos juntos, lutássemos juntos contra a noite terrível.
— Vem deitar comigo, assim dividimos a manta. Tu não sentes medo e eu não sinto frio.
— Não tenho medo — disse ela.
— Melhor.
Aproximou-se e me entregou a manta, que estendi com cuidado em toda a largura da cama. Me deitei outra vez.
— Vem.
Sentou-se sem erguer a coberta, olhava para o mobiliário escasso e algumas roupas que estavam espalhadas.
— O senhor não tem mulher? Não, eu não tinha mulher.
— Nem filho? Também não tinha.
— Eu também não sou casada — disse ela. Dei uma risada, ela voltou-se, surpresa.
— Que coincidência — tratei de remendar —, eu sem mulher e encontrar logo uma moça solteira... Mas agora vem deitar, te deita, essa manta parece fina mas é bem quentinha.
Ela pegou meu relógio na mesinha.
— Quantos relógios tens?
— Só esse.
— É de ouro?
— Ouro! Relógio de ouro eu vi uma vez, numa revista.
— Mas é bonito.
— Gostas?
— Gosto, é tão bonito.
— Podes ficar com ele.
Ela me olhou, não acreditando.
— Verdade — eu disse. — Se gostas, podes ficar com ele.
— E tu?
— Eu? Eu não preciso e até nem gosto desse relógio, é feio.
— Não é feio, não, parece um relógio de ouro. Colocou-o no pulso.
— Obrigada.
— De nada. Agora te deita.
A gaveta estava aberta e ela pegou um livro, folheou, largou na mesinha.
— Por que tu guarda essa papelama na gaveta?
— São cartas.
— Cartas? Tem gente que te escreve?
— Não, ninguém me escreve. São cartas velhas, quase todas da minha mãe.
— Tu tem mãe?
— E tu, tens?
Não respondeu. Tinha apanhado algumas cartas e as olhava.
— Posso ver?
— Claro.
— Qual é que é da tua mãe?
— Quase todas.
— Essa é?
— É.
— E essa aqui?
— Também. Todas as que têm letrinha redonda são dela. Sabes ler?
Largou o maço de cartas sobre o livro, arredou a coberta, deitou-se tão longe quanto a cama permitia. Esperei algum tempo e apaguei a luz. A maldita perna ainda me doía, eu continuava com frio e estava com os pés gelados.
— Teu pé é quente?
— É.
— Deixa eu encostar o meu pé nele?
— Deixo.
— Obrigado.
Encostei os dois e me felicitei pela ideia. A manta, os pés que logo se aqueceriam, era só dormir.
— Tu tá acordado?
— Estou.
— Se eu te pedir uma coisa, tu faz?
— Depende.
— Lê uma carta pra mim.
— Quê?
— Lê uma carta.
Numa hora daquelas, com um frio daqueles e com aquele cansaço, o travo do vinho e a fome — porque ela comera a minha panqueca —, que diabo ela estava pensando?
— Está bem — eu disse, ligando de novo a luz. — Me alcança uma daí.
Comecei a ler. Era uma das cartas mais antigas. Minha mãe pedia notícias, perguntava se eu deixara de fumar, "o cigarro vai acabar com a tua saúde" e recomendava que não deixasse de procurar o Dr. Álvaro, que podia me arrumar um emprego melhor. Já fazia muitos anos que não lia aquela ou qualquer outra das cartas que guardava, e enquanto lia considerava que não era bom ler velhas cartas de pessoas queridas. Era quase como reencontrá-las, mas dava uma saudade... Ai, mãe... Quando lavares tua camisa branca, não esfrega demais o colarinho, que está desgastado e acaba se rasgando. Deixa de molho à noite, no outro dia é só esfregar de leve e enxaguar. E não te esquece do meu conselho, quando saíres à noite põe o cachecol que te dei, por causa da garganta. Ai, mãe. Passados tantos anos eu já não sabia se tinha deixado a camisa de molho, que cachecol era aquele, e pela vida afora vinha pegando vento na garganta e fumando e sempre com minha tosse seca, meus pigarros, minha falta de ar. E o Dr. Álvaro, que fim tinha levado o Dr. Álvaro? Só queria ver a cara da minha mãe se soubesse do estado dessa perna, se me visse com o bordão, já feito um velho e sem ninguém, um fantasma da casa que a vira crescer e agora me via desmoronar, tão maltratado quanto suas paredes, suas janelas, sua escadaria. A carta terminava com "muitos beijos da mãe que te adora e reza por ti".
— Acabou?
Ela estava com os olhos cheios de lágrimas.
— Ora — eu disse —, é apenas uma carta de mãe e é uma carta tão velha... Não vamos pensar em coisas tristes. Te encosta em mim que estou com frio, se quiseres um travesseiro eu espicho o braço.
Me deu as costas, tapou-se até o pescoço. No começo ficou longe, mas logo se aproximou um pouco, depois outro tanto, encostou os pés nos meus e adormeceu com a cabeça no meu braço. E ressonava, às vezes roncava e me despertava, eu a sacudia de leve para que não fizesse tanto ruído. E tentava dormir de novo e me demorava, então viajava naquele mundo caricioso e bom que a carta me trouxera de volta, de repente me dava conta de que aquela menina que dormia comigo, tão pequena, era sozinha como eu, tão mais velho do que ela, tão vivido, tão gasto. E sentia uma ternura imensa por aquela companheirinha, aquele pedacinho de gente que já sofria, sem compreender direito, as solidões e as amarguras da vida.
Na manhã seguinte, ao despertar, não a encontrei. E me senti fraudado, desiludido, triste: por que não se despedira de mim? Me sentei na cama, uma leve dormência repuxando o braço. Ao procurar os cigarros notei o relógio na cadeira. Por que não o levara? Nem o relógio nem qualquer outra coisa, que eu notasse. Eu tinha uma caneta prateada e ela estava na escrivaninha, em seu ninho de poeira e papel velho. Eu tinha um rádio de pilha e ele também estava ali, ao lado da carteira. Mas quando olhei para a mesinha, quando vi a gaveta aberta...
Ela deixara na gaveta, dobrada, a touca de bolinha, e levara todas as cartas da minha mãe.