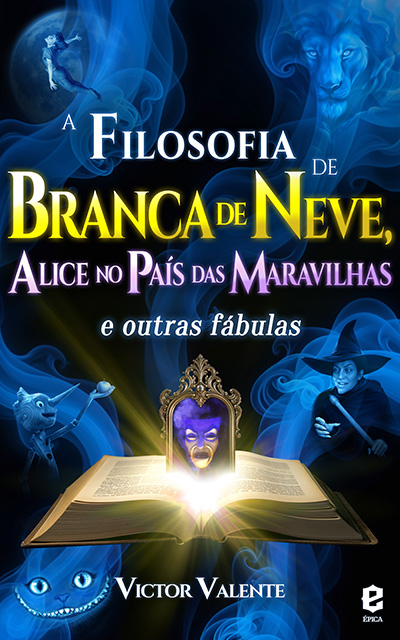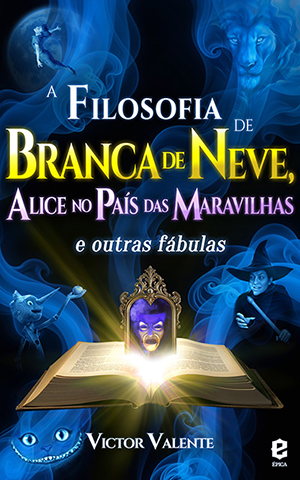Abriu com cuidado a porta do casebre. O interior estava às escuras e ele apertou os olhos, querendo apagar deles algum resto de luz. Nas imediações um vidro se partiu, logo um grito de mulher, mas ele não teve a curiosidade de voltar-se e entrou, encostando a porta. Apalpou a parede de tábuas até localizar o caibro que servia de tranca, mas não o pegou nem o moveu. Deu dois passos minuciosos, medidos, abaixou-se e tocou no colchão, na áspera manta, na criança que ela agasalhava. Passou uma perna por cima, depois a outra e sentou-se no chão, contra a parede. A seu lado, ocultando-o da porta que dava para a peça contígua, a superfície lisa e fria da geladeira.
Por um momento ficou imóvel, à escuta, em seguida acomodou as pernas, puxando-as de encontro ao peito. Ouviu um sonido na outra peça e encolheu-se, estremecido. Não era a primeira vez nem a segunda que, tarde da noite, entrava e se escondia, mas não se acostumava e nos primeiros minutos sempre tinha medo. Não, medo não, como poderia? Era algo sem nome que o fazia lembrar uma remota madrugada, quando despertara e vira, no colchão ao lado, o pai montado na mãe, galopeando a mãe. Seu coração galopeara junto, doloroso, amadrinhando aquela doma rude.
Ouviu novos ruídos, sobrepostos ao ressonar da criança, e agora os identificava, eram os arames do lastro, sons compassados, agudos, rangentes, às vezes cessavam, logo recomeçavam, depois cessavam outra vez e outra vez recomeçavam, como se jamais fossem cessar de todo.
Afrouxou o abraço que tinha dado às pernas e pensou, com irritação, que na próxima vez daria meia-volta e esperaria na rua, caminhando, fumando, bebendo em algum lugar. Como se isso fosse mudar qualquer coisa, instou consigo. E depois era perigoso, todo mundo sabia que era perigoso. Não havia noite em que, pela manhã, não se soubesse de um angu nas redondezas, roubos, brigas, tiros, de vez em quando até morte violenta, as contas que se ajustavam entre os traficantes. Não podia ficar caminhando à toa, arriscando-se.
E estava tão cansado, e era sábado, ansiava por deitar-se, dormir, tinha até um pouco de inveja da criança que dormia profundamente no quentinho da manta. Seu filho.
Meu filho.
Quisera aconchegar-se ali com ele, emendar um sono só até oito, nove da manhã. E despertar bem-humorado, lampeiro, vadiar o domingo inteiro no Parque da Redenção. Levariam um farnel. Isso. Um piquenique no Recanto Chinês. Uma volta no trenzinho, contornando o lago e vendo lá embaixo — que bonito — os namorados abraçados nos barquinhos de pedal. E alugar uma bicicleta, claro, o piá era taradinho por bicicleta e no último passeio já estava aprendendo a equilibrar-se. Figurou o rosto do menino, suarento, vermelho, triunfante, e logo mudou de ideia, não, não iria ao parque e tampouco a outro lugar: gastar logo agora, desesperar, se faltava tão pouco...
Pegou um cigarro no bolso da camisa e o pendurou nos lábios. Pegou também a caixa de fósforos, tirou um palito. Se passasse um carro, acenderia, escondendo o lume. O cigarro fazia falta, era um bom companheiro.
Melhor do que outros, pensou.
Lembrou-se com ódio do colega de serviço que se dizia seu amigo e andava com insinuações, diz-que-diz-que, cuidado, o fiscal do almoxarifado está de olho em ti, era tudo mentira, o fiscal não sabia de nada e se soubesse ia fazer boquinha de siri, ele também roubava peças de reposição. Todo mundo roubava. E todo mundo precisava roubar, não havia outro jeito. Ele mesmo, naquele momento, não estava sendo roubado? Imagine, chegar em casa e procurar a tranca. Dependendo do lugar em que a encontrava, tinha de ocultar-se, encolher-se atrás da geladeira, como um feto, enquanto o roubavam. E aguentava, precisava aguentar, ainda que o coração galopeasse e se partisse em mil pedaços.
Inês, a minha Inês.
Sem querer acendeu o cigarro, o clarão foi tão fugaz que nem chegou a ver o rosto de seu filho. Mas este, se desperto, teria visto os olhos de seu pai. O coração partido em mil pedaços.
Deu uma tragada funda, escondeu a brasa e mesmo assim a tênue claridade desvelou, por um instante breve, a face do menino. Ele estava deitado de bruços, o rosto voltado para onde estava o homem.
Meu filho.
Quando seu filho nasceu aquele homem chegou a fazer planos, como fazem todos os pais e é tão natural, tão necessário. Trabalhar duro para que o guri tivesse estudo, pudesse ser um guarda-livros, um fiscal. Hoje não tinha ilusões, já não planejava, não sonhava nada e só pensava nas necessidades mais próximas, concretas, a comida, o remédio, alguma roupinha. Ou no aniversário do guri, que era algo mais do que concreto: era sagrado.
Ia fazer oito anos.
Ruídos novamente, agora mais fortes. Ele apagou o cigarro no chão e encolheu as pernas, abraçando-as. Encostou-se na geladeira o mais que pôde. Ouviu passos furtivos, logo a porta da rua foi aberta e ele pôde ver a silhueta de Inês agarrando o trinco, o homem que se retirava. Era um tipo baixo, atarracado. Não houve diálogo entre os dois. O homem fez uma saudação, erguendo o braço. Inês fechou a porta.
Silêncio.
Ele ouvia o ressonar do menino e esperava.
— Estás aí?
Soltou as pernas, suspirando, procurou o toco do cigarro no chão. Ouviu Inês passar, em seguida a luz de uma vela iluminou a peça ao lado. Levantou-se, acendeu o cigarro. Deu uma olhada no filho, passou por cima dele e entrou no quarto.
Inês estava sentada na cama, na mesma posição em que pouco antes ele estivera, abraçando as pernas. Sentou-se também, tirou os sapatos, a calça, deitou-se de través.
— Adivinha aonde fui ao meio-dia.
— Ao centro?
— Sim — ele disse.
Os olhos dela, pequenos, sem brilho, estavam atentos.
— E viste?
— Vi. Uma vermelha, da cor do Inter.
Ela o fitou, temerosa, tocou no braço dele.
— E tu acha que nós... será que...
O homem sorriu, ou quis sorrir. A mulher viu que ele estava com os lábios trêmulos e jogou-se sobre ele, beijando-lhe a face, os olhos, a boca.