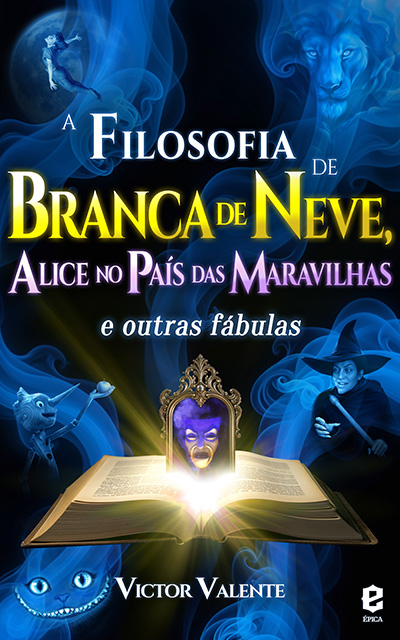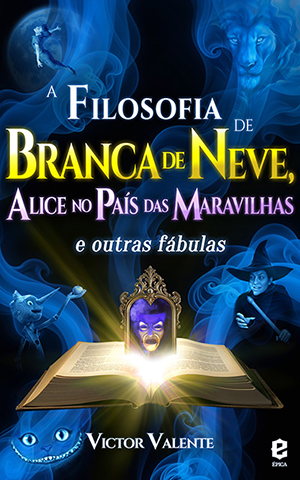Com a perda do título, que em segundos escapara às nossas mãos, a direção resolveu fazer uma triagem no plantel. Deu no jornal que meu nome estava na lista e não acreditei. Mas estava e dias depois o supervisor me procurou, trazendo um representante do Bangu. Vida de boleiro é assim, vem e vai como folha no vento. Passei o apartamento ao Silva, que chegava, e fui para o hotel, a qualquer momento receberia a ordem de partir, que dependia de outros negócios dos cariocas com o Inter.
Marilu, quando soube, não pôde refrear seu desagrado e telefonou para falar mal do Rio, a cidade da malandragem, do crime, das tentações. E pediu para eu ficar. Negativo, eu disse, mas temos ainda uma semana e você pode vir aqui no hotel se despedir de mim, promete?
Prometeu e cumpriu.
Marilu trabalhava para mim desde a minha contratação, no meio do ano. Semanalmente, em dia certo, vinha com a sacola buscar a roupa suja. Era uma morena gorducha, simpática, minha fã número um. Passava por casada e era até meio pudica, mas tinha olhos cobiçosos. Eu lhe dera a chave do apartamento. Como chegava cedo, às vezes topava com minhas ereções matinais e eu fingia dormir para ver suas reações. Ela ia listando a roupa que eu deixava amontoada no chão e alternava espiadelas de um olhar arisco. As sobrancelhas se arqueavam, as narinas fremiam. Minha juventude e meu corpo rijo haviam de abrir seu apetite, abalar, quem sabe, sua incerta pudicícia. Era uma espécie de jogo, e agora, na despedida, eu pretendia jogá-lo até o fim.
Pedi aos porteiros que a deixassem subir. Fiz com que sentasse na cama e tomei sua mão. Disse-lhe que fora boa para mim, que eu ia sentir saudade e havia uma coisa importante que queria falar, ah, não sei se falo, posso? Que bom que você quer ouvir e então eu disse que ela era gegê — gordinha e gostosa —, uma tentação porto-alegrense, e que queria levar dela a melhor recordação que um homem podia ter de uma mulher. Marilu arregalava os olhos, mas quando enganchei a mão debaixo do vestido, deu um grito e levantou-se.
— Não posso, não é direito.
De um salto a agarrei, derrubando-a na cama e afinal, não sou mais o teu campeão? No começo a disputa era parelha. Às vezes ela sossegava, deixava que a apertasse "só um pouquinho", mas se, esgotado esse tempo, conseguia esquivar-se, custava-me reconquistar a posição perdida. Mas era uma fã, não era? Seus faniquitos foram escasseando e de repente fez ah e logo ai-ai-ai e ui-ui-ui e, numa agonia, jurou que eu continuava sendo o campeão dela. Orre.
Na manhã seguinte recebi um telefonema do Gigante, o negócio estava concluído. Pouco depois ligou do Rio o presidente do Bangu. À tarde fui marcar a passagem e, de volta ao hotel, na portaria, encontrei Marilu à minha espera. Estava bem tranchã com aquele que, imaginei, era seu melhor vestido, e trazia na mão uma valise que me fez estremecer.
— Gostou de me ver? Se quiseres que eu vá contigo eu vou — e mal podia falar de tão nervosa. — Largo tudo!
E agora, eu me perguntava. Depois de uma manhã tão promissora, com novas chances para minha vida e minha carreira, uma tarde aziaga, essa urucubaca. Não sabia o que fazer e lembrava um dia parecido, o do último Gre-Nal. Péssima lembrança. No comecinho fizemos um a zero, placar que já servia, e daí em diante só toque de bola, cozinhando o adversário, que terminou o primeiro tempo já de meia arriada, morto. Mas veio o segundo tempo e uma surpresa, o morto ressuscitando e nos encurralando, cheio de moral, e a rapaziada ali, vá pontapé, chutão, cotovelada, sem compreender direito o porquê dessa virada. Parecia um castigo.
Marilu percebeu que se iludira e seu olhar errou pelo saguão, como em busca de socorro. Por momentos desequilibrou-se e achei que ia cair. Tomei-a da cintura e a fiz sentar-se no sofá, preocupado com a bisbilhotice dos porteiros. O que eu mais temia era um escândalo às vésperas da apresentação ao novo clube.
— Você não pode magoar sua família — lembrei-me de dizer.
— Família? Que família? — e riu com amargura. — Ah, eu sabia, no fundo eu sabia que era muita felicidade para uma pobre lavadeira.
— Que é isso, Marilu? Você continua com o Silva e vai se dar bem com ele, é um paulista legal.
Ela choramingava, eu repetia que é isso, que é isso, e vendo que lhe tremiam os músculos da face, abracei-a, tentando acalmá-la. Ela me abraçou também e me beijou na boca, um beijo ansioso que aceitei de boca fechada e até com algum rancor. De relance vi que os porteiros riam.
— Que vergonha — disse ela com um fio de voz, sem que eu atinasse a que comportamento aludia, se ao meu ou ao seu. Levantou-se, fungando, e rumou para a porta num passinho de esforçada dignidade. Por trás da vidraça a vi cruzar a rua, carregando a malinha. Que pena, pensava, que pena, mas pensava também que não precisava ter remorsos: se eu pisara na bola ao enredar sua vidinha, ela também pisara ao me dar aquele susto, e assim, no apito final, ninguém saía perdendo.
A caminho do elevador, sorri para os porteiros.
— Algum problema? — quis saber um deles.
— Nenhum — eu disse.
Mas começou a anoitecer em Porto Alegre e, sozinho naquele quarto provisório e impessoal, sem ninguém por mim e com a mala por fazer, as roupas sobre a cama e, na mesinha, o bilhete da passagem para um futuro incerto, mais do que sabia, eu sentia que o jogo com Marilu tinha sido a última rodada do meu fracasso no Internacional e ia terminando como aquele Gre-Nal maldito: o empate cedido já no apagar das luzes e o adeus ao sonho de ser verdadeiramente um campeão.