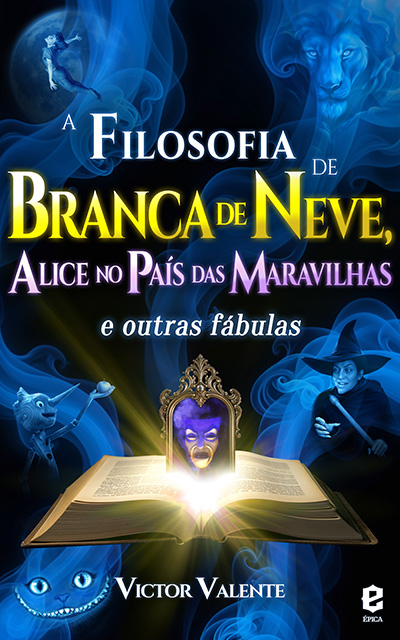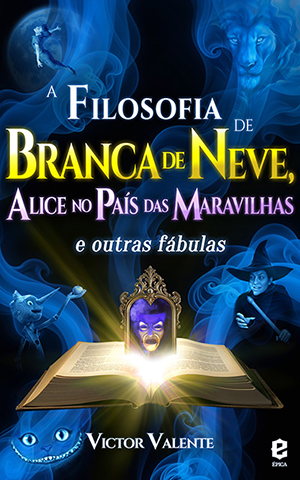Era um Opala cor de café, sem placas, dois homens no banco dianteiro. Da janela eu via o automóvel a meia quadra do edifício, mas estava resolvido a endurecer comigo mesmo. Não ia descer. Tampouco ia ligar para Helena, perguntar se tudo ia bem. Ia esperar pacientemente, fazer café e ouvir a fita de Julia Bioy.
Na cozinha, pus a chaleira ao fogo.
Os carros com tripulantes, parados na minha rua, sempre me alarmavam. Às vezes eu descia, saía do edifício pela garagem, cuja porta dava para a avenida transversal. Ficava lá, mordendo as unhas, até que o carro fosse embora. A cada susto prometia mudar de vida e pensava em Helena, em como era importante ela mudar também.
Com o copo de café voltei à sala, assim chamada por ter duas poltronas e um aparelho de som, herdados do morador anterior. Sentei-me, repetindo que não ia descer, e liguei o gravador com a única fita que possuía, também herança do ex-morador. Fora gravada num cabaré de Buenos Aires, certa Julia Bioy cantando boleros.
Boleros e mais boleros numa voz rouca e nostálgica, suavemente trágica... os primeiros quase não ouvi, vá preocupação com o que podia acontecer lá na rua, mas, pouco a pouco, aqueles temas de amor infeliz foram encontrando um lugar em mim, avivando passadas amarguras e o último e modesto sonho, ao qual me apegava com obsessão: recomeçar a vida enquanto a tinha. Uma vida singela, quieta, que me reconciliasse com os encantos, com as pieguices dos dias suburbanos. Um chalezinho em Belém, petúnias para regar em tardes de calor e Helena — como nos idílios —, para amá-la entre as petúnias.
Eu a conheci numa reunião e a vi outras vezes em circunstâncias semelhantes, encontros rápidos, nervosos, mas convidativos o bastante para suscitar o desejo de renová-los. Depois houve o problema de segurança que causei, tentando encontrá-la, e tivemos ambos de sair de Porto Alegre. Quase um mês num hotel de Caxias, até que nos dessem novos endereços. Um conhecendo o outro fora das reuniões, da pressão das tarefas, saber, por exemplo, que Helena tinha sonhos como os meus, ouvi-la falar de seus medos, suas noites povoadas de ânsias, música de rádio e mosquitos. Adorava petúnias, claro, e estava farta da clandestinidade.
Em nossa última noite em Caxias lembrou um livro que lera em Buenos Aires, a história de uma mulher que se casara por conveniência, era infeliz, monotonamente infeliz, e sonhava com o amor, com a paixão furtiva que a incendiara em certa noite portenha, e um dia, cansada de sonhar e da vacuidade de seu mundo sem futuro, quis matar-se, sendo impedida por um tipo que, num primeiro instante, quase não reconheceu, um homem velho, acabado e feio, que afinal era o mesmo que nos últimos quarenta anos dormira com ela, seu marido, e só então pôde dar-se conta de que, também para ela, a louçania era só pó de memória e já nem podia despir-se para o amor sem envergonhar-se de seu corpo.
Era um livro terrível, extraordinariamente humano, e Helena, emocionada, prometia não acomodar-se nem mesmo na antiacomodação em que vivíamos. Queria casar-se, queria morar nalgum lugar, ter um pouco dessa paz que os que nunca viveram no perigo costumam chamar mediocridade, e os mais exaltados, egoísmo.
Aquela noite em Caxias, eu a lembrava intensamente ao ouvir Julia Bioy e o lamentoso coro dos violões.
Nossas malas abertas, nossas roupas desfeitas no chão, a matéria de adeus que respirávamos e o vinho que ela bebia em minha boca, aquele vinho quase humano, generoso hóspede do cálice que perdoava tudo e em tudo acreditava — para que servem os lábios, senão para o vinho e para os beijos? Helena não queria dormir, e na sacada, nua, esperava o amanhecer. Garantia: "Não me esquecerei da minha promessa". E dizia também: tenho frio, me abraça, me aperta, me faz carinho, nós nos lembraremos sempre de Caxias, e quando mudarmos nossas vidas brindaremos a este hotel, a esta madrugada, ao vinho e ao nosso sonho de amor numa sacada.
Ela foi para o Rio, eu voltei a Porto Alegre. Quando regressou, mais tarde, deram-lhe aquele encargo infame, o dia inteiro enclausurada. Era a nossa central de recados, nosso ponto de referência, nosso porto seguro. Fazia a ligação com o contato do comando e tudo passava por seu telefone, desde a convocação de reuniões importantes até o vale para a compra de meias. Não podia encontrar-se comigo, eu aceitava, tentava aceitar, mas os dias foram passando e as semanas e os meses... e Julia Bioy, desde um cabaré de Buenos Aires, confessava em meus ouvidos:
La última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido.
Quis esquecê-la, reconheço, pois passou a me evitar. Falávamos assiduamente ao telefone, era minha obrigação dar sinal de vida, mas, se manifestava intenção de vê-la, não, era impossível, então eu não compreendia? Quando mataram Marighela em São Paulo ela se tornou mais arredia, nada dizia além do necessário e desligava sem ao menos despedir-se. Essas recusas me desconcertavam. Às vezes chegava a pensar que a odiava e sentia vergonha de meu papel ridículo em Caxias, falando em casamento, em chalés de subúrbio e, por favor, petúnias! Ficava imaginando que ela e o contato zombavam do meu sonho. Petúnias, diriam, e quase morreriam de rir.
Eu estava confuso. Não, não era isso.
Era como se eu fosse o viajante do deserto que a certa altura quer voltar e suspeita de que o vento e as areias apagaram seu rastro. Queria decidir, mas era preciso que tal decisão tivesse um sentido, uma direção, que em última instância era um compromisso com a felicidade. De que adiantava trocar medo por solidão?
Precisava ver Helena, de qualquer maneira precisava vê-la. Quis localizar seu endereço na lista telefônica, onde poderia constar com outro nome. Com uma régua isolava os prefixos e assinalava os iguais ao seu, para logo conferir o número inteiro. Mais de uma vez adormeci na poltrona com a lista nos braços, despertando com os olhos injetados, ardidos.
Tentei expedientes vários, estratagemas, passos detetivescos e outros métodos discretos que tinham sempre algo em comum: não davam certo. Era como esbarrar numa parede de concreto, e essa sensação de impotência, que me perseguia durante as buscas, tinha também seu componente de assombro: como eu pudera viver tanto tempo atrás dessa muralha?
O desespero me levou a procurar Eugênio, que fora meu colega no curso clássico e tinha funções junto ao comando.
Confessei lisamente meus tormentos e Eugênio prometeu me auxiliar. Ela não quer te ver porque é perigoso, ele disse, está te protegendo, está apostando no futuro. Sim, eu disse, no futuro, quando formos dois velhinhos. Eugênio balançou a cabeça, vou te conseguir, ele disse, te prometo, mas o melhor para teu bem é esquecer tudo: nessa encrenca em que a gente se meteu o individual e o social não conciliam e é preciso tocar em frente, até o fim.
Como cantava a Bioy:
La última noche que pasé contigo
quisiera olvidarla por mi bién.
E eu cantava junto, com a voz embargada, ou talvez dormisse sonhando que cantava, pois despertei subitamente com o toque do telefone, tão estridente que parecia me lançar noutro mundo, noutra vida, desvairada e premente. E o Opala? O café estava pela metade, frio.
Era Helena.
— Eugênio caiu — e desligou.
Corri à janela. O carro estava lá, mas de seus ocupantes nem sinal. Abri a porta do apartamento e, não vendo ninguém, desci veloz e silenciosamente a escada. Do corredor lateral do térreo espiei a porta da rua e vi dois homens atrás dos grandes vidros, um deles com o dedo no porteiro eletrônico.
Passei à garagem, deitei-me para ver a rua pela fresta da porta à rés do chão. Havia um carro na calçada, um Volks Sedan azul, três homens junto dele. Não via os homens, não os via por inteiro, só as pernas e o para-choque do automóvel, a alça do capô. Retornei, ofegante, ao corredor. Os outros dois continuavam à porta do edifício e apertavam indiscriminadamente vários botões. Num impulso, e querendo acreditar que o zelador estava ausente, adiantei-me. Eles soquearam o vidro.
— Polícia — gritou o mais alto, de terno cinza e colarinho, mostrando um documento que não cheguei a ver.
Abri a porta, ouvindo pelo alto-falante do porteiro vozes de pessoas cujos apartamentos eles recém haviam chamado.
— Traz o Marco pra ficar com ele — disse o alto, e enquanto o outro se afastava, andando rapidamente pela calçada, indicou o corredor ao lado dos elevadores. — Onde é que vai dar?
— Na garagem.
— Fora a porta da frente, é a única saída?
— É, dá na outra rua.
— Espertinho — murmurou.
O segundo policial retornou com o que se chamava Marco e era ainda muito jovem.
— Vamos subir — disse o alto. — Você fica com o inspetor e não se afasta dele, certo?
O Inspetor Marco fechou a porta do edifício e sentou-se na mesa da portaria. Ofereceu-me um cigarro, que peguei com dificuldade.
— Nervoso?
— Polícia é polícia. Aproximou o isqueiro aceso.
— Conhece os moradores todos?
— Mora muita gente aqui.
— E o do 28?
— O professor?
— Professor, é? — e riu.
— Se é ele, conheço. Sempre conversa comigo quando entra e sai. Vive entrando e saindo. Agora mesmo passou pra garagem.
— Ele desceu?
— Vi ele entrando na garagem.
— Agora?
— Agora não, quando eu vinha atender.
Abriu a porta, olhou a rua, tornou a fechá-la, visivelmente preocupado.
— Fique aqui — mandou, indo para o corredor. A meio caminho parou, voltou-se. — Por este lado é a única saída?
— É, dá na outra rua.
Encostou-se na parede, como disposto a esperar. Parecia mais tranquilo.
— Inspetor — chamei, a voz sumida. — Tem uma janela na garagem, mas é um pouco alta. Dá no terreno vizinho.
— Merda — ele reagiu. — Não saia dessa porta, tá entendendo? Se alguém passar por aí — e ergueu o dedo — te fodo com tua vida.
Ao entrar na garagem levava o revólver na mão. Dentro de um minuto ou menos saberia que não havia janela alguma. Abri a porta e saí. Ninguém à vista, ninguém que se interessasse por mim. Tomei a direção oposta à da avenida, em passadas largas, rápidas, sem correr. A distância que me separava da outra esquina, mais de cinquenta metros e menos de cem, parecia ter mais de mil e a percorri sem alterar o passo, sem olhar para trás. Quando finalmente a alcancei, lancei-me não a correr, mas num trote acelerado que me levou à segunda esquina e ao ponto do táxi. Não pensava em nada. Continha-me para não gritar.
Não pensava em nada e no entanto havia qualquer coisa em mim que subvertia o gosto da vitória. Um passo em falso? Um esquecimento? Andando por uma rua do centro, conferi o conteúdo dos meus bolsos: a carteira, uma caneta, a chave de uma caixa postal, não, não era isso, era um sentimento de urgência, insidioso, amargo, que se relacionava com Helena e ameaçava em ritornelo: não a terás, não a terás.
Na Rua da Praia, de uma engraxataria que alugava telefone, chamei Helena.
— Saí de casa.
— Tiveste visitas?
— Tive.
— Eu adivinhava. Problemas?
— Problemas, problemas, não.
— Tudo bem agora?
— Sim, mas eu gostaria...
— Está bem — cortou ela. — Me telefona dentro de uma hora, e te cuida, sim? Olha que vou repetir: te cuida.
— Quero te ver.
Desligou. Tornei a chamá-la.
— Helena, eu te amo. Por favor, não desliga.
Não falou em seguida e ouvi ou pensei ouvir sua respiração.
— Me responde sim ou não — disse, por fim. — Estás acompanhado?
— Que pergunta! E o acompanhante não ia ficar numa outra linha te escutando? Estou na Rua da Praia, acredita.
— Em ti eu acredito.
— Helena, eu te amo. Se estivesse com alguém teria necessidade de dizer isso? Não respondeu.
— Helena, estás ouvindo?
— Sim — era pouco mais do que um sussurro.
— Quero falar contigo sobre Belém.
— Belém Novo?
— Tem árvores lá, o rio, aquelas pedras enormes. Não gostas de Belém Novo?
— Ah — fez ela —, uma história de petúnias.
— Sim, petúnias, tens alguma coisa contra elas?
— Eu adoro petúnias, são tão delicadas.
— Vermelhas, azuis, brancas, lilases... gostas?
— Por que falar nisso agora?
— Porque chegou a hora. Vem comigo, te espero na frente do Ryan.
— Mas eu não posso fazer isso. E os outros?
— Transfere a linha pro contato e ele que avise os outros. Não és insubstituível, ninguém é insubstituível, dá pra compreender?
— Me dá um tempo.
— Meia hora.
— Estás louco?
— Estou, completamente. Silêncio.
— Helena.
— Sim?
— Queres terminar a vida como a mulher do livro? Silêncio outra vez.
— O hotel, a sacada, era tudo brincadeira?
— Me ajuda — suplicou. — Me dá um tempo.
— Ou vens ou vou te buscar.
— Mas não sabes onde é...
— Sei, claro que sei. Eugênio me disse.
— Eugênio? Ele sabe? — e o tom era de alarma. Não a terás, não a terás, recomeçava o estribilho.
— Cai fora — gritei.
— Sim, sim — ela disse. — Aconteça o que acontecer, quero que saibas...
— Não quero saber nada, cai fora — e desliguei.
Subi correndo a Rua da Praia, correndo atravessei a praça defronte à Santa Casa, onde tomei um carro. Em dez minutos, se tanto, entrava na sua rua.
— Devagar — pedi ao motorista.
A poucos metros do edifício vi o Opala cor de café, vazio. Adiante, o Sedan azul com dois homens. O do volante era Marco, que dizia qualquer coisa ao outro e gesticulava muito.
— Seguimos? — quis saber o motorista.
Seguir? Para onde? De repente não havia mais nada, exceto a certeza de que o sonho se acabara tão rapidamente como se acabam as petúnias, tombadas, murchas, antes do fim da estação.
Não, não era isso.
O sonho continuava e continuaria, mesmo depois da estação das flores, enquanto houvesse um violão e desgraças de amor: ele era outro bolero da fita de Julia Bioy, cujo último acorde, como um nó, trancava em minha garganta.
— Seguimos ou paramos? — insistiu o homem.
— Seguimos.
— Sempre em frente?
— Sempre em frente — eu disse. — Mesmo que a gente queira voltar, não pode.
— Não, não pode — assentiu o motorista. — Essa rua tem mão única.