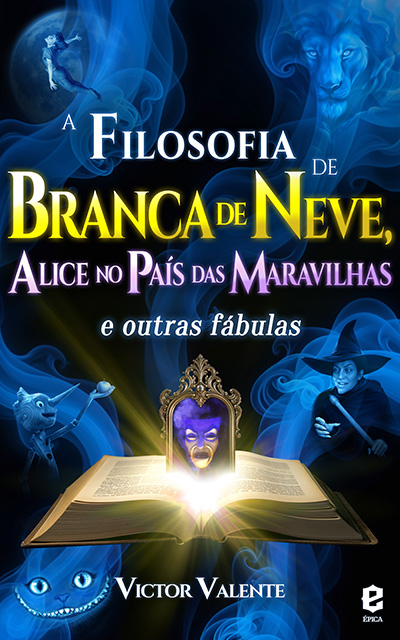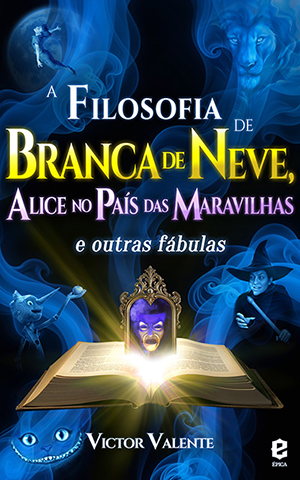Era um domingo à noite e a gente humilde da cidade convergia para a praça do Centro Cultural. Pelos passeios de saibro chegavam grupos ruidosos de rapazes, casais de namorados, homens solitários que às vezes paravam à beira do caminho e escrutavam o movimento no afã de uma companhia. Outros vinham com a família. Engraxates, sentados em suas caixas, observavam os passantes, e pelo hábito, olhavam primeiro os sapatos, depois quem trafegava em cima.
Pequena multidão, mais compacta, formava-se junto à porta do edifício, e eu também estava ali. Queria rever Daniel, parceiro de antigas noites boêmias na distante Porto Alegre. Daniel agora era um pintor de nome, o retratista da moda entre as bacanas. Dera no jornal que estava na cidade e compareceria àquela festa no Centro Cultural, e eu queria propor que, no seu retorno à capital, viajássemos juntos.
Chegaram os brigadianos, postaram-se uns ao longo da calçada, outros junto à porta. Pouco mais tarde, recebidas por um zunzum da multidão, as personalidades: cavalheiros engravatados que não olhavam para os lados, ou o faziam sobranceiros às nossas obscuras cabeças, damas de vestidos longos que pareciam causar inveja e temor às suas congêneres de rústica extração.
Uma mulher estava logo à minha frente, com o bebê. O marido era um gordo falastrão e por ele fiquei sabendo que um dos recém-chegados era o prefeito.
— Miau — fez o gordo em falsete, e explicou: em duas gestões, o homem comprara duas estâncias.
Atrás do prefeito vinha o poeta citadino, que no jornal de sábado dedicava versos às mães, aos astronautas americanos e ao Papai Noel. E o poeta nos lançava olhares complacentes, aqueles olhares que, decerto, reservam os poetas para seus leitores semanais.
O médico, de paletó branco e gravata-borboleta, foi outro que despertou certo alvoroço. Roubava nas consultas do instituto, ilustrou o gordo, e era metido a garanhão. Achei graça, ele me empurrou com o ombro.
— Tá rindo? Minha mulher só consulta na farmácia.
— Arcendino — protestou a mulher —, o que o moço vai pensar da gente? O saguão do Centro já se enchia.
— Festança — comentei.
— O velho retouço dos graúdos. Se cai uma bomba em cima sobra só pé-de-chinelo que nem nós.
— Não é má ideia.
— Já pensou? A farra? — e me olhou. — O amigo não é daqui, certo?
— Sou, mas morava em Porto Alegre. Quase não ouviu.
— Olha aquele de cabelo branco! Tá vendo? É o comandante da guarnição, amigo do Médici. Quando ele resmunga a cidade cai de joelhos.
— Arcendino — protestou de novo a mulher.
O comandante entrou no Centro, à frente de um pequeno cortejo de admiradores. Em seguida avistei Daniel. Ele também me viu e, rapidamente, voltou-se para a dama que o acompanhava. Mas eu já me adiantara.
— Daniel!
Ele passou, evitando a mão que lhe estendia.
— Daniel — insisti.
Um soldado se interpôs.
— Pra trás!
Não era a primeira vez, naqueles anos, que me acontecia ser ignorado ou repelido. Eu dizia compreender esses fatos deprimentes — derivações de uma circunstância que se impunha duramente à fraternidade entre as pessoas —, mas tal compreensão era uma farsa. Lançavam uma gosma ferruginosa ao teu redor e todo mundo se afastava, como se teu mal fosse contagioso e mortífero. Vestias a máscara da saúde, mas, por trás dela, teu ânimo era o de um doente terminal.
No saguão o movimento serenava, a festa, nos salões, estava começando. Arcendino me ofereceu um cigarro.
— Terminou a coisa — disse, algo decepcionado.
Acendemos nossos cigarros e ele propôs uma cerveja no bar da Rodoviária. Me ofereci para carregar o bebê e a mulher de bom grado aceitou.
— Pesadinho, não?
— É, nasceu com quatro quilos.
— Então é filho do pai dele. O gordo riu, satisfeito.
No bar, pediu uma cerveja e três copos. Comentou o incidente com Daniel — quem sabe eu não me enganara —, lembrou um caso semelhante e, afinal, quis saber:
— O amigo faz o quê?
— No momento... nada.
Os dois se olharam e ele fez um gesto como a dizer que entendia, embora sua expressão denotasse o contrário.
— Antes trabalhava num jornal — acrescentei —, mas tive alguns problemas. Os dois se olharam novamente.
— Saúde?
— Não, a saúde vai bem — e não escondi: — Foi a política.
— Não me diz que te prenderam.
— Duas vezes.
— Esses milicos... Olha só — disse à mulher —, mais um que eles atiraram na rua da amargura.
— Vai passar — eu disse. — Estou indo amanhã pra Porto Alegre e é quase certo que...
— Tenho um primo que também foi preso — interveio a mulher. — Pegaram ele com maconha. Arcendino não gostou da comparação.
— Não é a mesma coisa, teu primo aquele é um cafajeste.
Contou a história do primo e outras mais, e já vazios os nossos copos me convidou para trabalhar com ele num setor do matadouro, onde havia um lugar de conferente. O gerente era do peito, assegurou, e para quem se dava bem com o lápis era canja, só rabiscar num papel quadriculado.
— Tem parente na cidade?
— Só a mãe.
— Então! Amanhã é segunda, por que não aparece? Matadouro dos Mallmann, depois da ponte. Um servicinho a preceito e tu ainda pode ficar perto da velha, dando uma assistência — e fez um gesto largo: — Mãe é mãe.
Eu quis dizer algo, mas o que disse não foi além de um murmúrio entrecortado. Ele pagou a cerveja e, já de pé, tirou a chupeta do filho.
— Dá tiau pro titio.
O bebê me olhava. Arcendino insistia, tiau pro titio, tiau pro titio.
— Ele não sabe dar tiau — disse a mulher.
— É um babaca — disse o gordo, e me cutucou com o braço. — Como é, vai aparecer? Garanto o lugar. E era como se garantisse: vieste procurar um amigo e o encontraste.
— Vou — pude responder.