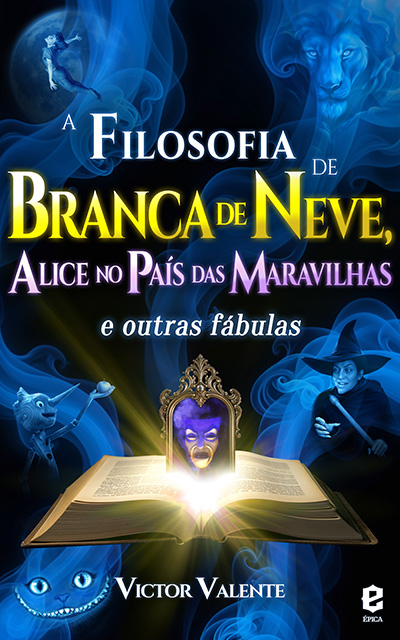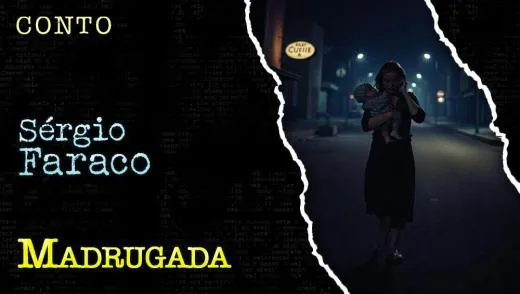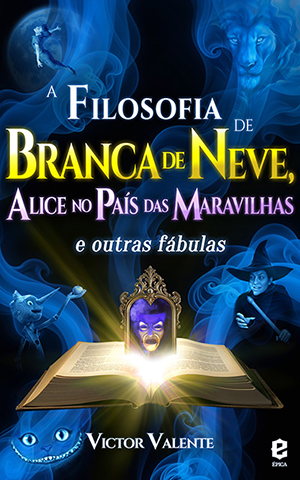Estou sendo bem-tratado, sim, a única queixa que tenho é de meu pai, que nada fez para me ajudar, nem antes, nem agora. No entanto, sempre o respeitei, sempre o obedeci e nunca revelei a ninguém aquilo que vi em seu consultório. Fui bom filho. Mas o pai desse filho o ignora, e a essa hora, enquanto o filho sofre, há de estar gozando a vida, bem campante, nos braços de Maritza.
Não, não pense que não sei o que estou dizendo, que sou um lunático qualquer. Essa ideia, que certamente lhe foi sugerida, é mais uma cena do grande teatro, da grande farsa montada contra mim e cujo primeiro ato foi a demissão de meu emprego. O epílogo todo mundo sabe, deu no jornal: cá estou eu, pobre de mim, como se fosse não apenas um louco, mas um criminoso.
Logo eu, a vítima.
Sem trabalhar e sem chance de conseguir outra colocação — a demissão sujou meu nome —, tive de voltar à minha cidade natal. Alugamos um apartamento, Ângela e eu, e enquanto não vinham nossos móveis nos hospedamos na casa de meu pai, um sobrado de seis quartos, com um quintal imenso que só terminava onde começava o rio. Tínhamos certa privacidade — pela manhã meu pai atendia no hospital —, mas não era a nossa casa e aguardávamos, ansiosos, o dia em que poderíamos nos mudar.
Quer dizer: eu ansiava, ela não sei.
E se fosse só isso... E a chuva? E o rio? Às vezes o tempo melhorava, parecia que ia limpar e logo se enfarruscava outra vez. Tornava a chover e o rio, tão próximo de nós, não parava de subir.
Na manhã de uma noite em que a chuva tinha sido intensa, o rádio noticiou que um caminhão de mudanças capotara na entrada da cidade. Sem nada dizer a Ângela, chamei um táxi e fui ao trevo da rodovia federal. Encontrei o caminhão tombado, mas não era de mudanças, era um caminhão comum e trazia uma carga de pneus, que se espalharam entre o acostamento e o alambrado. Vigiava-os um menino de capote.
Enquanto o taxista manobrava para retornar, passou outro caminhão. Era enorme, monstruoso, não era um caminhão comum.
— Vamos atrás dele — pedi.
E pedi que acelerasse e não conseguimos alcançá-lo. Na cidade, o caminhão diminuiu a marcha, mas, numa rua arborizada, não se desviou dos galhos que se alongavam sobre o meio-fio, partiu-os com violência e lá se foi com a ramaria enredada entre a carroceria e a cabina. E eu é que sou doido, disse comigo, ao mesmo tempo em que o via, num movimentado cruzamento, arrebentar a fiação elétrica da rua. Os fios tombaram no asfalto e mandei o taxista parar. Desembarquei e fui esperar no apartamento, cuja chave Ângela deixara com o zelador. Mais de hora esperei em vão.
Voltei para casa a pé.
— Onde estavas? — Ângela quis saber.
Ela servira o almoço na cozinha. Sentei-me e contei tudo.
— O caminhão sumiu — concluí.
— Decerto o homem se perdeu.
— Numa cidade tão pequena?
— E como sabes que era a nossa mudança? Dizia o nome da transportadora?
— Não dizia nada. Mas era enorme, monstruoso, não era um caminhão comum. Ela começou a se impacientar:
— Um caminhão é um caminhão. E era de fato um caminhão?
— O que queres dizer com era de fato um caminhão?
— Outro dia viste o caminhão chegar e era uma kombi.
— Era um caminhão fechado!
— A kombi do verdureiro?
Já não me acusara de confundir Maritza com a faxineira? Com a voz alterada, renovou suas queixas de que eu costumava "imaginar coisas" e ignorar problemas reais. O rio, por exemplo.
— Não viste como sobe? Não viste como se aproxima? Outra noite de chuva e estaremos debaixo d'água.
Olhei pela basculante. O rio saltara de seu leito e alagara a maior parte do quintal. No galinheiro, já com um palmo d'água, as galinhas se agrupavam no poleiro.
— Vou soltar as coitadinhas.
— E onde vais prendê-las? Dentro de casa? — estava quase gritando. — Por que essa súbita piedade? Além disso, pode ser que pare de chover e a água não suba.
— Não disseste há pouco...? O olhar dela era sombrio.
— Eu não disse nada.
Eram as duas da tarde. Não quis começar outra discussão com ela. Nossa situação já não era boa e até era muito ruim, por causa de seu teatro infame. Ângela era uma mulher atraente, mas sua índole não tinha a mesma qualidade de seus atributos físicos. Nos últimos meses nem deitar comigo ela deitava, alegando disfunções ginecológicas e um rigoroso tratamento que meu pai ministrava. Se tinha amantes, não sei, não duvido e até penso que tinha, pouco se importou quando comecei a visitar Maritza no consultório, instalado nas peças da frente do casarão.
Chovia, chovia sempre e a chuva chicoteava as vidraças como um relho. Mudei a roupa úmida e, ouvindo Maritza chegar, desci. Em sua saleta, ela iniciava um grifograma. Era só o que fazia, o consultório era pouco frequentado desde que meu pai fora acusado de excitar as pacientes com doses elevadas de cantaridina.
— Meu pai não vem?
— Só à tardinha.
E vá puxar por cima do ombro a alça do sutiã, os seios dela eram grandes e pesados. E eram bonitos, alvos — memória de uma tarde em que, pela fresta da porta, vira-a com a blusinha aberta, oferecendo-se ao gosto de meu pai. Eu costumava me sentar ao seu lado para ajudá-la nos grifogramas, mas a mim ela me sonegava qualquer intimidade.
Ao entardecer, pela janela do segundo piso, vi Maritza sair e abrir a sombrinha. "Até amanhã, doutor", ela disse. "Até amanhã" e era a voz de meu pai. Mas não o vi. Vi, sim, o caminhão atropelando o meio-fio e jogando uma montanha de água na calçada. Maritza deu um grito e voltou-se para a janela, meio zangada, meio rindo:
— Olha só como fiquei. Dona Ângela não me arranja outra coisa pra vestir?
O motorista, um gringo de cavanhaque, também estava rindo. Era o caminhão que eu seguira, sim senhor. Era a nossa mudança. Era o fim daquela permanência no sobrado, que vinha acabando com meus nervos.
Chamei para dentro:
— Ângela, chegaram os móveis! E desci.
O gringo saltou da cabina. Estava acompanhado de uma jovem mulher com seios exuberantes, como os de Maritza.
— Foi difícil achar o apartamento?
— Não, mas preferi descarregar noutro lugar, por causa da escada.
— Como noutro lugar? Onde o senhor descarregou?
— No Grupo do B.O.S.
— Grupo do B.O.S.? Que é isso?
— Lá onde funciona o negócio das rodinhas.
— Rodinhas? Que rodinhas? Ele pegou a maleta na cabina.
— Depois te levo lá. Agora minha parceira quer tomar um bom banho e eu vou dar uma descansadinha.
Ainda me assombrava com tamanho atrevimento quando Ângela apareceu à porta, de calcinha e sutiã, cabelos desgrenhados.
— A água chegou na cozinha!
Corri para lá. O rio invadira a cozinha. Pela basculante, vi o galinheiro submerso. As galinhas tinham morrido afogadas.
— Era uma vez um galinheiro — disse o gringo.
Ele e a parceira tinham vindo atrás de mim, seguidos por Ângela.
— Essa enchente vai longe — tornou.
E não olhava para a água, olhava para Ângela.
— Vai te vestir — eu disse.
— Está abafado.
— Por mim não há problema — ele de novo.
— Nem por mim — reforçou a parceira. — O que eu quero é um banho.
— Olhe aqui... — e o segurei pelo braço. Ângela interveio:
— Te controla, por favor.
— Está bem, por exceção a moça pode tomar banho. Mas depois os dois vão embora, certo?
— Certo — disse ele.
E olhou novamente para Ângela. Estava com uma tremenda ereção e nada fazia para disfarçá-la.
— Levo vocês lá em cima — disse Ângela.
Tirei os sapatos encharcados e fiquei olhando, consternado, o quintal da casa de meu pai. Chuva e chuva e de repente algo bateu na porta da cozinha. Abri a porta. Era o corpo de uma galinha. Afastei-o com o pé, fechando logo a porta. A água subia o degrau que separava a cozinha do resto da casa e ia entrando na sala. Era preciso agir, salvar o que desse, mas Ângela parecia não se dar conta e continuava no andar de cima, a fazer sala para os invasores.
Subi para chamá-la.
A parceira estava no banho. No corredor, vi Ângela encostada na parede e o gringo levando a mão entre as pernas dela.
Ângela também me viu e, empurrando-o, veio ao meu encontro.
— Tu e ele... — eu disse.
— Eu e ele o quê? Vais começar?
— Eu vi.
— Não viste coisa nenhuma, não começa.
— Ele estava te agarrando.
— Não estava. Tu vês coisas que não acontecem, tu inventas...
E por que ela estaria com a calcinha torta, repuxada, como se tivesse interrompido o ato de despi-la? Dei-lhe um tabefe, ela cambaleou, e já me preparava para bater de novo quando o gringo se interpôs.
— Que é isso? Batendo na mulher? Tentei atingi-lo, ele se esquivou.
— Calma! Não vês que estamos com problemas? Olha só lá embaixo, alguém terá de nos socorrer pela manhã.
A água tinha subido tanto que a mesa desaparecera e do balcão só se via o tampo de mármore. No mesmo instante a luz se apagou.
— Vou trazer uma vela — disse Ângela.
— A água tá fria — gritou a parceira.
Ninguém respondeu. Ângela voltou com a vela.
— E agora? O que vamos comer?
O gringo nos segurou pelos braços, protetor, e nos fez andar.
— Tenho um pacote de mariolas na maleta. Até amanhã dá.
— Me tragam uma vela — era a parceira novamente.
E ninguém respondeu. Estávamos no quarto de meu pai e o gringo, sentado na cama, oferecia mariolas. Ângela aceitou, eu não. Ele achou graça.
— Se queres passar fome, o problema é teu.
Certo, disse comigo, mas o problema não é meu, é dele, só quero ver como vai estar o caminhão pela manhã. E olhei à janela. A água corria pela rua como um rio caudaloso e já cobrira as rodas.
— O caminhão sabe nadar?
Ele olhava para Ângela, que não se vestira e estava sentada na poltrona ao lado da cama, pernas erguidas, dobradas, os calcanhares na borda do assento. Com as mãos nos joelhos, balançava-os, e no rosto dela se cristalizara um sorriso obsceno.
— O caminhão tem escafandro?
O gringo se levantou e veio à janela.
— Olha comigo. O que estamos vendo?
— A enchente.
— Enchente? Que enchente? Olha comigo, o que estamos vendo? Um chuvisco, barro, poças d'água...
— E quanto ao caminhão? Tem pé-de-pato?
— Que descontrole — reclamou, voltando à cama.
E a cena do quarto também era inventada? O gringo com aquela ereção brutal e Ângela sorrindo, olhando. Não, não era um sorriso, era um trejeito, um esgar, um misto de urgência e gula, e já ela apoiava o pé na guarda da cama, joelhos afastados, em posição dir-se-ia ginecológica que deixava à mostra a orla escura de seus pelos.
— Querido — disse ela —, vem comer um tijolinho. O gringo abriu a gaveta do bidê.
— Não há outra vela por aqui? — e para mim: — Faz alguma coisa útil. Leva uma luz para aquela pobre mulher que está no escuro.
— Leva, querido. Na gaveta da cômoda — a voz rouca, melosa, bem ao contrário da habitual, autoritária e ressentida.
— Sim, vamos fazer alguma coisa útil — e apontei para o intruso —, vamos conversar sobre a mudança.
— Alguma novidade?
Ele estava com a mão no joelho de Ângela.
— A novidade é que o senhor, irresponsavelmente, deixou nossos móveis no Grupo do B.O.S.
— Grupo do quê?
— Não tente me enganar, o senhor mesmo disse que descarregou no Grupo do B.O.S., o negócio das rodinhas. Ele deu uma risada.
— Negócio das rodinhas! Ângela riu também.
— A chuva... ai... está deixando ele lelé.
O gemido era por causa daquela mão que alisava sua coxa.
— Está bem — eu disse —, vou levar a vela.
Achei a vela na cômoda, mas, ao invés de ir ao banheiro, desci. Com água na cintura, fui ao consultório e, no armário, peguei o bisturi. Meu movimento agitava as fichas médicas que flutuavam, entre envelopes de radiografias e páginas da Recreativa, a revista dos grifogramas de Maritza. À luz da vela, pareciam bandeiras drapejantes num abismo.
Abri a porta do banheiro sem bater.
— A vela! Viva! — festejou a parceira.
Estava sentada no vaso sanitário, enrolada numa toalha, as pernas nuas lambidas pela claridade oscilante.
— Gostou de me ver, não é? — e afastou a toalha.
Os seios dela eram bonitos, alvos como os de Maritza, mas não deixei que aquilo fosse longe. Passei-lhe o braço por trás da cabeça, cobrindo-lhe a boca, e fiz o que tinha de fazer. Lavei a mão ensanguentada e voltei ao quarto de meu pai, que eles estavam conspurcando com aquela traição. E lá estavam aqueles dois, despidos, o gringo na poltrona e Ângela escanchada nele, joelhos quase tocando o chão. Na minha cabeça se instalou uma grande confusão.
— Posso ver? — e era a minha voz.
— Claro, a mulher é tua.
Por trás da poltrona, vi que entrava nela. E ela ria e mordia o lábio e me olhava com os olhos esgazeados. O gringo lhe abocanhara um dos peitos e ela oferecia o outro, com o mamilo eriçado. E gemia. E mordia e mordia o lábio, me olhando, e seu rosto se contraía num riso mudo e ela me olhando, e seus olhos se esgazeavam e ela sempre me olhando. Vinha um orgasmo e deixei que viesse. Quando Ângela começou a ter o seu, os ais e os soluços se transformaram num grito de pavor: seus dedos se cortaram no bisturi que eu acabara de cravar na nuca do homem.
Lancei os corpos no rio que corria na rua. Afundaram logo e a correnteza, que já levara o caminhão e as galinhas, levou-os também.
Ângela chorava.
— Não chora — eu suplicava —, amanhã vamos começar vida nova. Vou descobrir onde é o Grupo do B.O.S., vou recuperar nossa mudança. Essa noite horrível a gente esquece.
— Meu Deus, ele não sabe!
Eu sabia, sim. A vítima se insurgira contra seus algozes. Eu, sozinho, contra a gigantesca falsidade que me cercava. E achava que estava salvando nosso casamento, nossa vida em comum, nosso futuro.
Pobre de mim.
Ângela não parava de chorar, puxava os cabelos, mas não se arrependia de nada e nada confessava. E para dissimular suas culpas, para me confundir e me deixar mais nervoso, dizia que não chegara mudança alguma, que não havia caminhão nem caminhoneiro, que chovia, sim, mas que não havia nenhuma enchente, que eu estava doente, que eu estava louco e acabara de matar meu pai e sua secretária. Viu só? E eu pergunto: ela merecia viver? Ela era má, muito má.