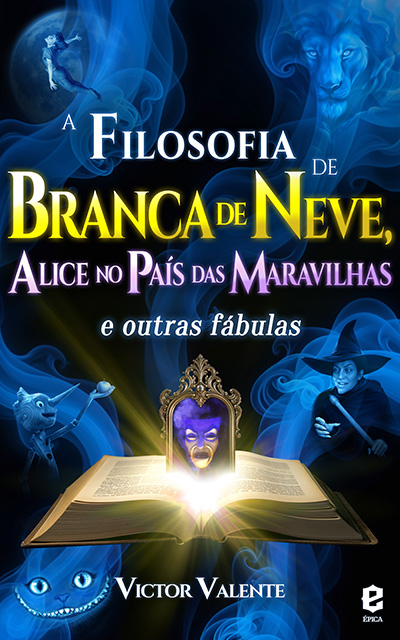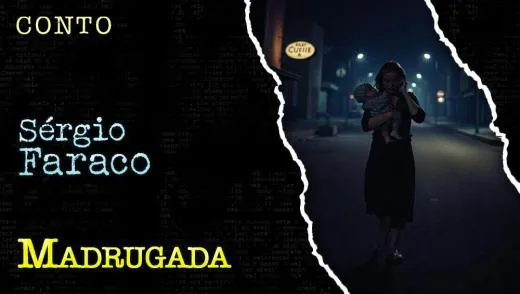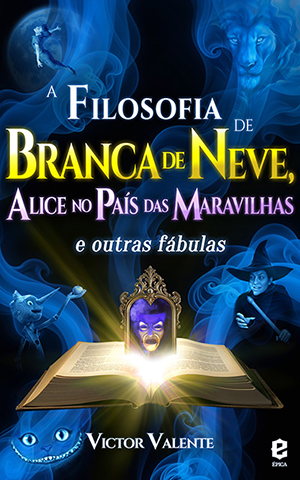— Vamos acordar? — disse alguém.
Não respondeu.
Estava desperto e ia caminhar no parque, como em regra se prescrevia aos enfartados. Ao levantar-se, viu que já se vestira, embora não se lembrasse de quando e como o fizera. E não havia mais ninguém no quarto. Parece um sonho, disse consigo, ao mesmo tempo em que percebia, como nos sonhos, súbita mudança de cenário: não tomara o elevador, tampouco descera as escadas e, no entanto, lá estava no volante do automóvel.
Não quis deixar o carro no estacionamento do parque, perto dali havia uma garagem da qual já se servira. Antes de alcançá-la, defrontou-se com outra que nunca tinha visto, ao lado do Hospital Americano.
Entrou.
O manobrista abriu-lhe a porta.
— Cuidado — recomendou —, é um carro especial.
No Caixa, recebeu o cartão magnético. Agora ia fazer seu exercício e se felicitou por notar que os acontecimentos se ordenavam numa fluência regular, já sem lacunas.
— A saída é por ali — disse o Caixa.
Ao invés de sair, viu-se atravessando um longo corredor com um renque de portas atrás das quais deviam estar pessoas enfermas. Ao fim do corredor, uma escadaria que ia dar num jardim e ali brincava uma menina. Perto dela, um homem que o olhou e continuou olhando, como se o vigiasse. Retornou, pouco à vontade. Errara o caminho e tinha de passar novamente pelo corredor vestido daquele jeito, bermuda, camisa-de-meia e... pés no chão? Estava sonhando, claro, por isso alguém lhe dissera "vamos acordar". Um sonho tolo, como tantos outros, não era o caso de se preocupar. Mas foi com desafogo que encontrou a porta que comunicava o saguão do hospital com a garagem. Antes de cruzá-la alguém travou seu braço.
— Volte para o quarto.
— Eu?
— Você mesmo.
— E quem o senhor pensa que é?
— O gerente do hospital.
— Pois saiba que está me confundindo! E desvencilhou-se com maus modos.
Sonho ou não, era um dia estranho e melhor que fosse embora, antes de se enredar noutro mal-entendido e impacientar-se o bastante para padecer outro enfarto. Apresentou o cartão, pagou e foi sentar-se no comprido banco de madeira, onde outras pessoas já se achavam. Esperou uns minutos e chamou o manobrista.
— Tem gente que chegou depois de mim e já saiu.
O rapaz fez um gesto, querendo dizer que aquilo não era com ele. Continuou esperando, e depois de esperar por um tempo que entendeu como um acinte, novamente reclamou do empregado.
— Já faz mais de vinte minutos...
— Não posso fazer nada. Enquanto a gerência não pede o carro, não estou autorizado a buscar.
— Não pediu o meu?
— Que carro é o seu?
— Um Ford 1929, bege. O manobrista riu.
— Qual é a graça? — perguntou, levantando-se. Indignado, foi bater a uma porta onde se lia: Gerência.
— Entre.
Entrou, viu um balcão e uma estante com medicamentos.
— Às ordens — disse o homem atrás do balcão.
— Isso é uma farmácia? — erguendo um pouco a voz. — Aí fora não tem uma placa dizendo que aqui é a gerência?
— Tem. E eu sou o gerente.
— Da garagem?
— Não, da farmácia.
— Mas que coisa! — e bateu com o punho no balcão.
— Não se exalte — tornou o gerente. — O senhor pode estar sonhando e os sonhos são assim, uma confusão dos diabos.
Quem sabe eu posso ajudá-lo...
— Pode? Então vamos lá. Deixei meu carro na garagem para caminhar no parque e... Hesitou, o fato é que não caminhara.
— O senhor disse que deixou o carro...
— Sim, um Ford 1929, bege. Um carro especial, como aqueles que aparecem nos filmes de gângsteres.
— Estragaram?
— Não, mas faz um tempão que estou esperando e não há jeito do manobrista trazer.
— Menos mal, pensei que tinham arranhado, roubado, sei lá.
— Quero reclamar da demora.
— Então vou lhe explicar como funciona a empresa, para que não perca tempo batendo em porta errada. Isto aqui é um hospital americano, por isso o nome: Hospital Americano.
— Meu problema é com a garagem.
— Exato. Neste Hospital Americano temos o hospital propriamente dito, temos a farmácia, o parque, a garagem...
— O parque?
— Também é nosso. No fim do corredor há uma escadaria que dá num de seus recantos.
— Ah, sei. Vi uma menina e também um homem que...
— Continuando: cada área tem seu gerente. O homem que o senhor viu deve ser o gerente do parque, pois aquela escada é privativa. O acesso do público é por fora.
— Aonde o senhor quer chegar?
— Já cheguei, o que estou tentando lhe dizer é que deve procurar o gerente da garagem, o senhor Rossi.
— Onde é o escritório?
— A garagem não tem escritório. Pergunte ao Caixa, ele dirá onde está o senhor Rossi. Viu só? Com paciência tudo se resolve, mesmo em sonhos. Procure o senhor Rossi. O senhor disse que é um Ford, não é?
— Ford 1929, bege.
— Belo carro.
— Conhece?
— Não, mas se aparece nos filmes...
"Esse sujeito é louco", pensou, e foi até o Caixa.
— Quero falar com o senhor Rossi.
— Sobre o quê? — disse o homem.
— O assunto é com o senhor Rossi. O gerente da farmácia disse que o senhor sabe onde ele está.
— Ele disse isso?
— Disse.
— Está bem. Sou eu. Mas isso não vai ficar assim.
— Assim como?
— Nada. Depois veremos. Qual é o problema?
— Já fazem... quarenta e cinco minutos... veja só, quarenta e cinco minutos que estou esperando meu carro e nada.
— Tem a nota?
— Que nota? O senhor me deu um cartão, que devolvi.
— Certo, mas sempre pergunto ao cliente se quer nota fiscal. O senhor deve estar com a nota, a não ser que tenha dito que não precisava.
— Não tenho nota nenhuma. Fui caminhar no parque e... bem, fui, voltei, entreguei o cartão e estou aqui, feito um palhaço.
— Calma — disse o senhor Rossi. — Que carro é o seu?
— Um Ford 1929, bege.
— Quê? Não acredito.
— Como não acredito? Acha que estou mentindo?
— Ora, dizer alguém que "não acredita" é força de expressão. Descreva o veículo, por favor.
— Tem capota de lona, o estepe de lado, como aqueles que aparecem nos filmes de gângsteres.
— Filmes de...?
— Gângsteres.
— Ah... — fez o senhor Rossi, lançando-lhe um olhar significativo. — Foi o que ouvi. Tipo o Al Capone, certo?
— Certo.
— Interessante o pormenor.
— Pormenor? Que pormenor? Acaso isto aqui é um hospício? Já faz mais de quarenta e cinco minutos que...
— Vamos ver o que está acontecendo — cortou o senhor Rossi, levantando-se. — Quer dizer que o gerente da farmácia disse ao senhor o que o senhor me disse?
— Disse.
— Com as mesmas palavras?
— Sei lá com que palavras. Se isso é um problema, não é um problema meu, é seu e dele. O senhor Rossi tinha saído da casinhola do Caixa e o olhou:
— Meu e dele? O senhor disse meu e dele?
— Disse.
— O senhor está opinando sobre o organograma da empresa?
— Quem? Eu? Olhe aqui, meu amigo...
E notou que o senhor Rossi o examinava de alto a baixo.
— Fui caminhar no parque — tratou de explicar. — Por isso estou assim e por isso cometi o disparate de deixar o carro em sua garagem.
— É estranho.
— O que é estranho?
— Ir caminhar assim... pés no chão... e o mais estranho é que hoje o parque está fechado.
— Na verdade, eu... sim, estive no parque, vi uma menina.
— De trancinhas? É a filha do gerente. Quando o parque está fechado, ele costuma trazer a família. E onde o senhor deixou seus tênis?
— Não sei.
— Ah, não sabe? Essa é boa.
— O que o senhor tem a ver com isso, se caminhei ou não caminhei, se uso tênis ou não uso? Por que não vai reclamar dos negros do Quênia, que correm de pé no chão?
— Negros do Quênia... bah, definitivamente a coisa se complica. Que carro o senhor disse que é?
— Ford 1929, bege.
— Do tempo da Lei Seca...
— E daí?
— Não, nada... Parque fechado... pé no chão... um carro que podia ser do Al Capone... e agora essa, negros do Quênia...
Enfim, vamos julgar o caso. Aguarde um instante.
Chamou um manobrista para assumir seu lugar no Caixa e, ao aproximar-se novamente, estendeu-lhe a mão:
— Prazer, Francisco Rossi.
Ele olhou para o lado, como não acreditando no que ouvia.
— Por favor, me acompanhe. Tomou a frente do senhor Rossi.
— Vou lhe dizer algo que não precisava dizer. Sabe por que preciso caminhar? Prescrição médica. Sou cardiopata.
Provavelmente estou sonhando, mas resolva esse assunto antes que algo me aconteça. O senhor pode ser responsabilizado.
— Então trate de manter seu sonho sob controle — disse o senhor Rossi. — Venha comigo.
Seguiram pelo corredor que ele já conhecia, desceram a escadaria do parque e tornaram a entrar no edifício por uma porta lateral, dando noutro corredor que fletia ora à esquerda, ora à direita e, como num labirinto, ia cruzando com outros corredores parecidos.
— Chegamos — disse o senhor Rossi.
Uma sala bem-iluminada, a mesa de conferência e quatro homens sentados: os gerentes do parque, do hospital e da farmácia, e o quarto era um magrelo esguedelhado.
— Olá — disse o gerente do parque.
— Olá — disse o gerente do hospital.
— Olá — disse o gerente da farmácia. — Cá estamos de novo. O senhor Rossi abriu os braços.
— Ia apresentá-los, mas vejo que já se conhecem.
— Que espécie de reunião é esta? — e apontando o magrelo com o queixo. — E quem é o senhor? O Minotauro? O senhor Rossi adiantou-se:
— Seja gentil. É o americano. Ele recuou um passo.
— Bateram meu carro? Foi roubado?
— É o senhor que está dizendo — disse o senhor Rossi. E voltando-se para os demais: — Que quiproquó! Vejam os senhores: parque fechado... tênis "não sei"... Al Capone e a Lei Seca... e isso sem falar nos negros do Quênia.
— Negros do Quênia! — assombrou-se o gerente do parque.
— Que estou a ouvir? — disse o gerente do hospital. E o da farmácia:
— Que insolência!
O senhor Rossi ergueu as mãos abertas:
— Não nos precipitemos, julgando pelas aparências. O assunto está em discussão. O nosso mister — e tocou no ombro do americano —, o que acha desse conjunto de indícios?
— Acho — respondeu o magrelo.
— É a minha opinião — assentiu o senhor Rossi, e voltou-se: — Como o senhor explica essa... isso tudo que aí está? Sobretudo a questão queniana... a aludida negritude... a relação desses elementos com seu interesse pelo organograma da empresa.
Ele sacudia a cabeça, incrédulo.
— Suas razões — insistiu o senhor Rossi.
— Minhas razões? — e agarrou a cadeira que lhe estava reservada. — Minhas razões, é? — e deu com ela no tampo da mesa, partindo-lhe um pé, que foi bater na parede, ferindo o reboco.
— Considere-se preso — disse o senhor Rossi, e chamou para o corredor: — Guardas! Alguém o agarrou por trás e começou a arrastá-lo para fora.
— Sou cardiopata! — gritou. — Me solta! Sou cardiopata!
Lembrou-se novamente de que aquilo era um pesadelo, do qual, sem demora, haveria de despertar. E se não fosse? No mesmo instante viu que o americano fazia um sinal, com o polegar para baixo.
— Mister! — tornou a gritar. — Mister!
Na verdade, ele não estava ali e tampouco saíra de onde estivera na última semana. E quem o visse num dos leitos daquele corredor, primeiro a murmurar, com a respiração acelerada, e logo um estremecimento, um ronco cavernoso, e quem o visse, depois, aquietar-se, e um fio de baba a lhe escorrer do canto da boca, quem o visse assim, saberia que do sonho que tivera, fosse qual fosse, ele nunca mais despertaria.