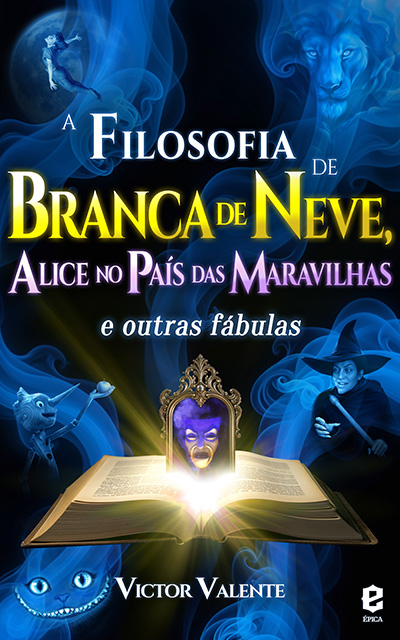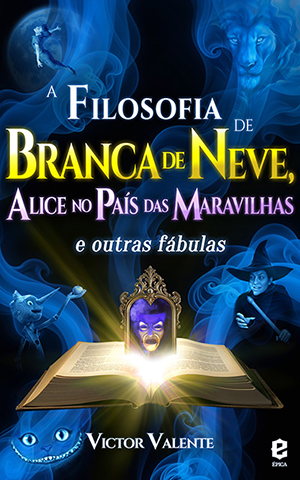Os Cavalinhos de Platiplanto, de José J. Veiga

Omeu primeiro contato com essas simpáticas criaturinhas deu-se quando eu era muito criança. O meu avô Rubém havia me prometido um cavalinho de sua fazenda do Chove-Chuva se eu deixasse lancetarem o meu pé, arruinado com uma estrepada no brinquedo de pique. Por duas vezes o farmacêutico Osmúsio estivera lá em casa com sua caixa de ferrinhos para o serviço, mas eu fiz tamanho escarcéu que ele não chegou a passar da porta do quarto. Da segunda vez meu pai pediu a Seu Osmúsio que esperasse na varanda enquanto ele ia ter uma conversa comigo. Eu sabia bem que espécie de conversa seria; e aproveitando a vantagem da doença, mal ele caminhou para a cama eu comecei novamente a chorar e gritar, esperando atrair a simpatia de minha mãe e, se possível, também a de algum vizinho para reforçar. Por sorte vovô Rubém ia chegando justamente naquela hora. Quando vi a barba dele apontar na porta, compreendi que estava salvo pelo menos por aquela vez; era uma regra assentada lá em casa que ninguém devia contrariar vovô Rubém. Em todo caso chorei um pouco mais para consolidar minha vitória, e só sosseguei quando ele intimou meu pai a sair do quarto.
Vovô sentou-se na beira da cama, pôs o chapéu e a bengala ao meu lado e perguntou por que era que meu pai estava judiando comigo. Para impressioná-lo melhor eu disse que era porque eu não queria deixar Seu Osmúsio cortar o meu pé.
— Cortar fora?
Não era exatamente isso o que eu tinha querido dizer, mas achei eficaz confirmar; e por prudência não falei, apenas bati a cabeça.
— Mas que malvados! Então isso se faz? Deixe eu ver.
Vovô tirou os óculos, assentou-os no nariz e começou a fazer um exame demorado de meu pé. Olhou-o por cima, por baixo, de lado, apalpou-o e perguntou se doía. Naturalmente eu não ia dizer que não, e até ainda dei uns gemidos calculados. Ele tirou os óculos, fez uma cara muito séria e disse:
— É exagero deles. Não é preciso cortar nada. Basta lancetar.
Ele deve ter notado o meu desapontamento, porque explicou depressa, fazendo cócega na sola do meu pé:
— Mas nessas coisas, mesmo sendo preciso, quem resolve é o dono da doença. Se você não disser que pode, eu não deixo ninguém mexer, nem o rei. Você não é mais desses menininhos de cueiro, que não têm querer. Na festa do Divino você já vai vestir um parelhinho de calça comprida que eu vou comprar, e vou lhe dar também um cavalinho pra você acompanhar a folia.
— Com arreio mexicano?
— Com arreio mexicano. Já encomendei ao Felipe. Mas tem uma coisa. Se você não ficar bom desse pé, não vai poder montar. Eu acho que o jeito é você mandar lancetar logo.
— E se doer?
— Doer? É capaz de doer um pouco, mas não chega aos pés da dor de cortar. Essa sim, é uma dor mantena. Uma vez no Chove-Chuva tivemos de cortar um dedo — só um dedo — de um vaqueiro que tinha apanhado panariz e ele urinou de dor. E era um homem forçoso, acostumado a derrubar boi pelo rabo.
Meu avô era um homem que sabia explicar tudo com clareza, sem ralhar e sem tirar a razão da gente. Foi ele mesmo que chamou Seu Osmúsio, mas deixou que eu desse a ordem. Naturalmente eu chorei um pouco, não de dor, porque antes ele jogou bastante de lança-perfume, mas de conveniência, porque se eu mostrasse que não estava sentindo nada eles podiam rir de mim depois.
Enquanto mamãe fazia os curativos eu só pensava no cavalinho que eu ia ganhar. Todos os dias quando acordava, a primeira coisa que eu fazia era olhar se o pé estava desinchando. Seria uma maçada se vovô chegasse com o cavalinho e eu ainda não pudesse montar. Mamãe dizia que eu não precisava ficar impaciente, a folia ainda estava longe, assim eu podia até atrasar a cura, mas eu queria tudo depressa.
Mas quando a gente é menino parece que as coisas nunca saem como a gente quer. Por isso é que eu acho que a gente nunca devia querer as coisas de frente por mais que quisesse, e fazer de conta que só queria mais ou menos. Foi de tanto querer o cavalinho, e querer com força, que eu nunca cheguei a tê-lo.
Meu avô adoeceu e teve que ser levado para longe para se tratar, quem levou foi tio Amâncio. Outro tio, o Torim, que sempre foi muito antipático, ficou tomando conta do Chove-Chuva. Tio Torim disse que, enquanto ele mandasse, de lá não saía cavalo nenhum pra mim. Eu quis escrever uma carta a vovô dando conta da ruindade, cheguei a rascunhar uma no caderno, mas mamãe disse que de jeito nenhum eu devia fazer isso; vovô estava muito doente e podia piorar com a notícia; quando ele voltasse bom ele mesmo me daria o cavalo sem precisar eu contar nada.
Quando eu voltava da escola e mamãe não precisava de mim, eu ficava sentado debaixo de uma mangueira no quintal e pensava no cavalinho, nos passeios que eu ia fazer com ele, e era tão bom que parecia que eu já era dono. Só faltava um nome bem assentado, mas era difícil arranjar, eu só lembrava de nomes muito batidos, Rex, Corta-Vento, Penacho. Padre Horácio quis ajudar, mas só vinha com nomes bonitos demais, tirados de livro, um que me lembro foi Pegaso. Isso deu discussão porque Osmúsio, que também lia muito, disse que certo era Pégaso. Para não me envolver eu disse que não queria nome difícil.
Um dia eu fui no Jurupensem com meu pai e vi lá um menino alegrinho, com o cabelo caído na testa, direitinho como o de um poldro. Perguntei o nome dele ele disse que era Zibisco. Estipulei logo que o meu cavalinho ia se chamar Zibisco.
O tempo passava e vovô Rubém nada de voltar. De vez em quando chegava uma carta de tio Amâncio, papai e mamãe ficavam tristes, conversavam coisas de doença que eu não entendia, mamãe suspirava muito o dia inteiro. Um dia tio Torim foi visitar vovô e voltou dizendo que tinha comprado o Chove-Chuva. Papai ficou indignado, discutiu com ele, disse que era maroteira, vovô Rubém não estava em condições de assinar papel, que ele ia contar o caso ao juiz. Desde esse dia tio Torim nunca mais foi lá em casa, quando vinha à cidade passava por longe.
Depois chegou outra carta, e eu vi mamãe chorando no quarto. Quando entrei lá com desculpa de procurar um brinquedo ela me chamou e disse que eu não ficasse triste, mas vovô não ia mais voltar. Perguntei se ele tinha morrido, ela disse que não, mas era como se tivesse. Perguntei se então a gente não ia poder vê-lo nunca mais, ela disse que podia, mas não convinha.
— Seu avô está muito mudado, meu filho. Nem parece o mesmo homem — e caiu no choro de novo.
Eu não entendia por que uma pessoa como meu avô Rubém podia mudar, mas fiquei com medo de perguntar mais; mas uma coisa eu entendi: o meu cavalinho, nunca mais. Foi a única vez que eu chorei por causa dele, não havia consolo que me distraísse.
Não sei se foi nesse dia mesmo, ou poucos dias depois, eu fui sozinho numa fazenda nova e muito imponente, de um senhor que tratavam de major. A gente chegava lá indo por uma ponte, mas não era ponte de atravessar, era de subir. Tinha uns homens trabalhando nela, miudinhos lá no alto, no meio de uma porçoeira de vigas de tábuas soltas. Eu subi até uma certa altura, mas desanimei quando olhei para cima e vi o tantão que faltava. Comecei a descer devagarinho para não falsear o pé, mas um dos homens me viu e pediu-me que o ajudasse. Era um serviço que eles precisavam acabar antes que o sol entrasse, porque se os buracos ficassem abertos de noite muita gente ia chorar lágrimas de sangue, não sei por que era assim, mas foi o que ele disse.
Fiquei com medo que isso acontecesse, mas não vi jeito nenhum de ajudar. Eu era muito pequeno, e só de olhar para cima perdia o fôlego. Eu disse isso ao homem, mas ele riu e respondeu que eu não estava com medo nenhum, eu estava era imitando os outros. E antes que eu falasse qualquer coisa ele pegou um balde cheio de pedrinhas e jogou para mim.
— Vai colocando essas pedrinhas nos lugares, uma depois da outra, sem olhar para cima nem para baixo, de repente você vê que acabou.
Fiz como ele mandou, só para mostrar que não era fácil como ele dizia — e era verdade! Antes que eu começasse a me cansar o serviço estava acabado.
Quando desci pelo outro lado e olhei a ponte enorme e firme, resistindo ao vento e à chuva, senti uma alegria que até me arrepiou. Meu desejo foi voltar para casa e contar a todo mundo e trazê-los para verem o que eu tinha feito; mas logo achei que seria perder tempo, eles acabariam sabendo sem ser preciso eu dizer. Olhei a ponte mais uma vez e segui o meu caminho, sentindo-me capaz de fazer tudo o que eu bem quisesse.
Parece que eu estava com sorte naquele dia, senão eu não teria encontrado o menino que tinha medo de tocar bandolim. Ele estava tristinho encostado numa lobeira olhando o bandolim, parecia querer tocar mas nunca que começava.
— Por que você não toca? — perguntei.
— Eu queria, mas tenho medo.
— Medo do quê?
— Dos bichos-feras.
— Que bichos-feras?
— Aqueles que a gente vê quando toca. Eles vêm correndo, sopram um bafo quente na gente, ninguém aguenta.
— E se você tocasse de olhos fechados? Via também?
Ele prometeu experimentar, mas só se eu ficasse vigiando; eu disse que vigiava, mas ele disse que só começava depois que eu jurasse. Não vi mal nenhum, jurei. Ele fechou os olhinhos e começou a tocar uma toada tão bonita que parecia uma porção de estrelas caindo dentro da água e tingindo a água de todas as cores.
Por minha vontade eu ficava ouvindo aquele menino a vida inteira; mas estava ficando tarde e eu tinha ainda muito que andar. Expliquei isso a ele, disse adeus e fui andando.
— Não vai a pé não — disse ele. — Eu vou tocar uma toada pra levar você.
Colocou novamente o bandolim em posição, agora sem medo nenhum, e tirou uma música diferente, vivazinha, que me ergueu do chão e num instante me levou para o outro lado do morro. Quando a música parou eu baixei diante de uma cancela novinha, ainda cheirando a oficina de carpinteiro.
— Estão esperando você — disse um moço fardado que abriu a cancela. — O major já está nervoso.
O major — um senhor corado, de botas e chapéu grande — estava andando para lá e para cá na varanda. Quando me viu chegando, jogou o cigarro fora e correu para receber-me.
— Graças a Deus! — disse ele. — Como foi que você escapuliu deles? Vamos entrar.
— Ninguém estava me segurando — respondi.
— É o que você pensa. Então não sabe que os homens de Nestor Gurgel estão com ordem de pegar você vivo ou morto?
— Meu tio Torim? O que é que ele quer comigo?
— É por causa dos cavalos que seu avô encomendou para você. São animais raros, como não existe lá fora. Seu tio quer tomá-los.
Se meu tio queria tomar os cavalos, era capaz de tomar mesmo. Meu pai dizia que tio Torim era treteiro desde menino. Pensei nisso e comecei a chorar.
O major riu e disse que não havia motivo para choro, os cavalos não podiam sair dali, ninguém tinha poder para tirá-los. Se alguém algum dia conseguisse levar um para outro lugar, ele virava mosquito e voltava voando.
Sendo assim eu quis logo ver esses cavalos fora do comum, experimentar se eram bons de sela. O major disse que eu não precisava me preocupar, eles faziam tudo o que o dono quisesse, disso não havia dúvida.
— Aliás — disse olhando o relógio — está na hora do banho deles. Venha pra você ver.
Descemos uma calçadinha de pedra-sabão muito escorreguenta e chegamos a um portãozinho enleado de trepadeiras. O major abriu o trinco e abaixou-se bem para passar. Eu achei que ele devia fazer um portão mais alto, mas não disse nada, só pensei, porque estava com pressa de ver os cavalos.
Passamos o portão e entramos num pátio parecido com largo de cavalhada, até arquibancadas tinha, só que no meio, em vez do gramado, tinha era uma piscina de ladrilhos de água muito limpa. Quando chegamos o pátio estava deserto, não se via cavalo nem gente. Escolhemos um lugar nas arquibancadas, o major olhou novamente o relógio e disse:
— Agora escute o sinal.
Um clarim tocou não sei onde e logo começou a aparecer gente saída de detrás de umas árvores baixinhas que cercavam todo o pátio. Num instante as arquibancadas estavam tomadas de mulheres com crianças no colo, damas de chapéus de pluma, senhores de cartolas e botina de pelica, meninos de golinhas de revirão, meninas de fita no cabelo e vestidinhos engomados.
Quando cessaram os gritos, empurrões, choros de meninos, e todos se aquietaram em seus lugares, ouviu-se novo toque de clarim. A princípio nada aconteceu, e todo mundo ficou olhando para todos os lados, fazendo gestos de quem não sabe, levantando-se para ver melhor.
De repente a assistência inteira soltou uma exclamação de surpresa, como se tivesse ensaiado antes. Meninos pulavam e gritavam, puxavam os braços de quem estivesse perto, as meninas levantavam-se e sentavam batendo palminhas. Do meio das árvores iam aparecendo cavalinhos de todas as cores, pouco maiores do que um bezerro pequeno, vinham empinadinhos marchando, de vez em quando olhavam uns para os outros como para comentar a bonita figura que estavam fazendo. Quando chegaram à beira da piscina estacaram todos ao mesmo tempo como soldados na parada. Depois um deles, um vermelhinho, empinou-se, rinchou e começou um trote dançado, que os outros imitaram, parando de vez em quando para fazer mesuras à assistência. O trote foi aumentando de velocidade, aumentando aumentando, e daí a pouco a gente só via um risco colorido e ouvia um zumbido como de zorra. Isso durou algum tempo, eu até pensei que os cavalinhos tinham se sumido no ar para sempre, quando então o zumbido foi morrendo, as cores foram se separando, até os bichinhos aparecerem de novo.
O banho foi outro espetáculo que ninguém enjoava de ver. Os cavalinhos pulavam na água de ponta, de costas, davam cambalhotas, mergulhavam, deitavam-se de costas e esguichavam água pelas ventas fazendo repuxo.
Todo mundo ficou triste quando o clarim tocou mais uma vez e os cavalinhos cessaram as brincadeiras. O vermelhinho novamente tomou a frente e subiu para o lajeado da beira da piscina, seguido pelos outros, todos sacudiram os corpinhos para escorrer a água e ficaram brincando no sol para acabar de se enxugar.
Depois de tudo o que eu tinha visto achei que seria maldade escolher um deles só para mim. Como é que ele ia viver separado dos outros? Com quem ia brincar aquelas brincadeiras tão animadas? Eu disse isso ao major, e ele respondeu que eu não tinha que escolher, todos eram meus.
— Todos eles? — perguntei incrédulo.
— Todos. São ordens de seu avô.
Meu avô Rubém, sempre bom e amigo! Mesmo doente, fazendo tudo para me agradar.
Mas depois fiquei meio triste, porque me lembrei do que o major tinha dito — que ninguém podia tirá-los dali.
— É verdade — disse ele em confirmação, parece que adivinhando o meu pensamento. — Levar não pode. Eles só existem aqui em Platiplanto.
Devo ter caído no sono em algum lugar e não vi quando me levaram para casa. Só sei que de manhã acordei já na minha cama, não acreditei logo porque o meu pensamento ainda estava longe, mas aos poucos fui chegando. Era mesmo o meu quarto — a roupa da escola no prego atrás da porta, o quadro da santa na parede, os livros na estante de caixote que eu mesmo fiz, aliás precisava de pintura.
Pensei muito se devia contar aos outros, e acabei achando que não. Podiam não acreditar, e ainda rir de mim; e eu queria guardar aquele lugar perfeitinho como vi, para poder voltar lá quando quisesse, nem que fosse em pensamento.