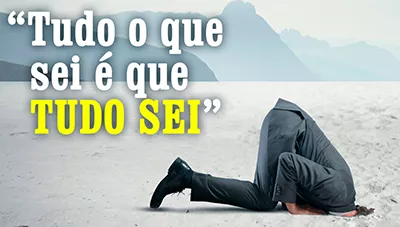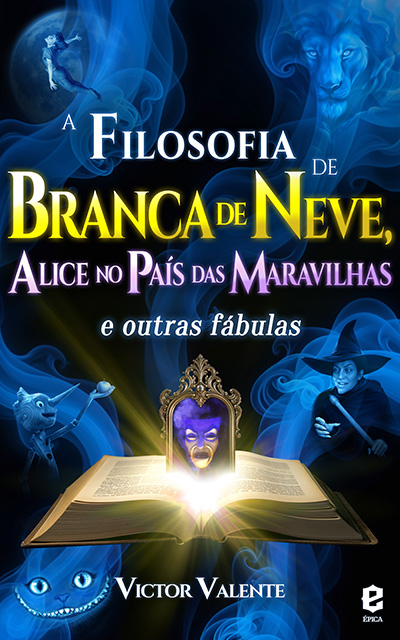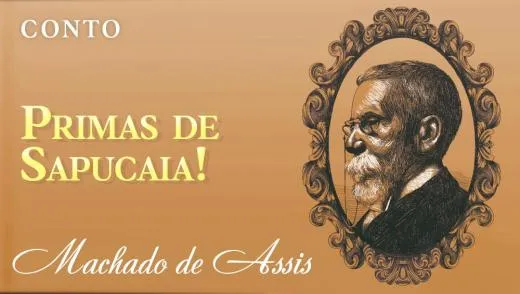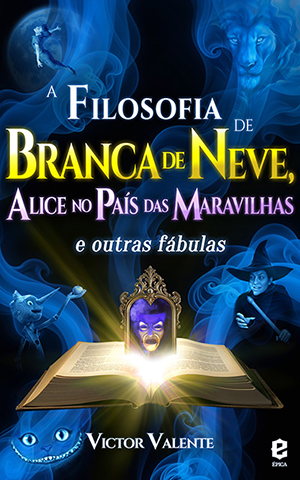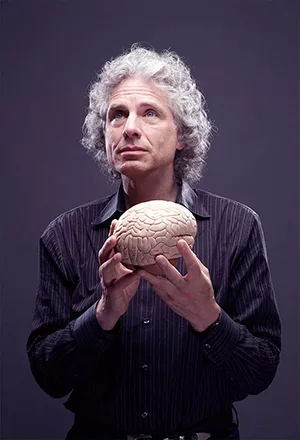
Pinker é um daqueles cientistas que sabem transmitir ideias complexas diretamente ao público, tornando assuntos acadêmicos muito mais interessantes e acessíveis. É especialista reconhecido nas áreas da linguística e desenvolvimento da linguagem, conduzindo pesquisas sobre linguagem e cognição na Universidade de Harvard. Autor de dez livros, incluindo os best-sellers Os Anjos Bons da Nossa Natureza e O Senso do Estilo, Pinker frequentemente envolve-se em polêmicas na internet, especialmente em relação ao modo como as descobertas e fatos científicos são noticiados ou interpretados pela mídia.
A entrevista que segue foi originalmente publicada no portal Undark:
Repórter — Em Os Anjos Bons da Nossa Natureza, você descreve o jornalismo como "uma forma sistematicamente enganosa de compreender o mundo". O que o levou a essa conclusão e por que, dada a sua posição, você ainda fala com jornalistas?
Steven Pinker — O jornalismo trata de coisas que acontecem, geralmente as incomuns e dramáticas. Esses eventos ficam gravados na mente e, devido a uma característica de nossa psicologia, que Daniel Kahneman e Amos Tversky apelidaram de heurística da disponibilidade, essas memórias afetam a avaliação de risco das pessoas. Se é fácil para você lembrar de exemplos de um fenômeno, você achará que esse fenômeno é comum. Portanto, as pessoas têm medo dos tipos de ameaças que aparecem no noticiário — ataques de tubarões, acidentes de avião, terrorismo —, quando na verdade deveriam temer riscos menos dramáticos, mas mais prováveis, como envenenamento acidental, cair da escada ou ler mensagens de texto enquanto dirigem.

No caso da violência, você nunca vê um repórter em frente a um colégio anunciando que não houve tiroteio em massa naquele dia, ou informando que uma capital africana não entrou em guerra civil. Em Os Anjos Bons, apresentei dados mostrando que a maioria das métricas de pesquisa do mundo apresenta uma diminuição da violência ao longo do tempo. Mas enquanto a taxa de violência não cair a zero, sempre haverá incidentes suficientes para gerar notícias, e a intuição das pessoas estará desconectada da realidade.
É claro que posso criticar um aspecto da cultura jornalística ao mesmo tempo que converso com jornalistas, e na verdade até os admiro! Sem jornalistas, como saberíamos sobre o que ocorre no mundo além de nosso pequeno círculo de conhecimento? O que eu gostaria de ver é mais contexto estatístico e histórico no texto de fundo de uma notícia (se for uma questão de espaço, os editores podem sempre deletar aquelas fúteis citações vox pop). E isso ainda mais nas análises de notícias e nas colunas de opinião — deveria haver uma lei contra qualquer analista que notasse que X aconteceu ontem e, em seguida, concluísse que X está aumentando. Somos abençoados com muitas agências governamentais, think tanks, ONGs e centros acadêmicos que registram dados ao longo do tempo. Talvez as descobertas obtidas por esses grupos pudessem ser assunto de notícias, desde que tornadas mais atraentes.
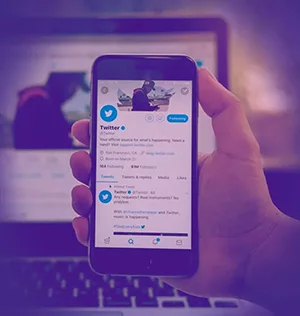
Tenho uma preocupação parecida em relação ao jornalismo científico, que acho que também dá cobertura excessiva a estudos isolados (one-off studies, que muitas vezes são, agora sabemos, irreplicáveis ou enganosos, como nas histórias sobre o que é cancerígeno ou qual é o alimento saudável do dia). Há muito pouca cobertura de meta-análises e revisões de literatura, onde conclusões mais robustas são tiradas.
Repórter — Sobre o tema da linguagem, em seu livro O Senso do Estilo, você disse que não acha — apesar da crença comum — que nossas habilidades linguísticas estão diminuindo. Mas em uma época de tweets de 140 caracteres e autocorreção onipresente, como isso pode ser verdade?
Steven Pinker — O Twitter seria uma ameaça ao idioma somente se um Líder Supremo nos obrigasse a nos comunicarmos apenas em tweets. Na realidade, escrevemos em uma variedade de formatos, variando em extensão, formalidade e permanência. Escritores competentes adaptam sua linguagem às demandas do meio. É um erro ditar uma carta formal no correio de voz de alguém, e também é um erro usar uma gíria descontraída e mal pontuada na inscrição de um memorial ao genocídio. Embora haja muito lixo eletrônico por aí, particularmente nas seções de comentários, também há uma avalanche de boa escrita em muitas revistas on-line, blogs, jornais e avaliações. Quando foi a última vez que você ouviu alguém reclamar que precisava voltar ao trabalho porque não havia nada para ler na web?
Repórter — No Twitter, você escreveu que "todas as palavras têm [mais de] um significado" e também que "adultos maduros resistem a se ofender sem motivo". Nós nos perguntamos sobre a palavra todas aqui. Como você enquadra isso, por exemplo, com palavras não ambíguas, sexualmente ou racialmente depreciativas?

Steven Pinker — Na verdade, não é fácil encontrar palavras que sejam inequivocamente depreciativas. Sempre depende do contexto. A palavra mais ofensiva no inglês contemporâneo é nigger (que vem de negro, em espanhol), mas era muito menos incendiária no sul [dos Estados Unidos] anterior à guerra [Guerra de Secessão]. E hoje o termo é famoso por ser usado de maneira provocativa ou afetuosa entre os afro-americanos, como se dissessem "Somos tão íntimos que podemos chamar uns aos outros de nomes ofensivos sem nos ofender". Queer, dyke e bitch também foram apropriados por seus alvos originais, e há uma revista para jovens judeus chamada Heeb [termo pejorativo para judeus].
Claro que o falante e o tom são cruciais. No filme A Hora do Rush, Jackie Chan interpreta um detetive de Hong Kong que inocentemente segue o exemplo de seu parceiro afro-americano e cumprimenta os clientes negros de um bar de Los Angeles com ?Wassup, my nigger!? Começa um pequeno alvoroço.
Mesmo colocando de lado esses usos, a maioria das palavras tabu tem, ou tinha, sentidos não tabu. Muitos termos racistas e misóginos começaram como metonímias, em que as pessoas eram chamadas por uma parte do corpo ou característica. Muitos termos sexuais tabu têm homônimos prosaicos, como pau, grelo, perereca — embora, como em uma versão linguística da Lei de Gresham, os sentidos tabu tendem a fazer com que as pessoas educadas não mais usem esses termos, e essas palavras são cada vez menos usadas com seus significados originais.

E também existem diferenças regionais e geracionais. Depois de nigger, a palavra mais ofensiva no inglês norte-americano hoje é cunt [termo vulgar para a genitália feminina]. Mas na Grã-Bretanha ele é menos misógino e é mais usado no sentido de idiota ou babaca. E isso pode estar se espalhando entre os norte-americanos mais jovens — fiquei chocado ao ouvir [o comediante] Louis C.K. usá-lo nesse sentido em um de seus monólogos.
Nada disso significa que devemos ser indiferentes à linguagem racista, misógina ou homofóbica. Em certos contextos, alguns usos são obviamente destinados a rebaixar ou intimidar, e os editores e moderadores têm boas razões para regulá-los nos fóruns que controlam.
Repórter — Voltando a Os Anjos Bons da Nossa Natureza, você diz no prefácio que nos dias de hoje somos "abençoados por níveis sem precedentes de coexistência pacífica". Nem todo mundo abraçou essa noção, incluindo alguns críticos que argumentam que a "coexistência pacífica" tem menos a ver com moralidade do que com medo de armas nucleares, por exemplo. Qual é a sua resposta a essa crítica?
Steven Pinker — Em primeiro lugar, a questão sobre coexistir pacificamente é separada da questão de por que o fazemos. Se as pessoas pararem de matar, espancar e estuprar umas às outras por razões não moralistas, ainda é melhor do que se continuassem.

De todo modo, as armas nucleares não podem explicar o declínio dos homicídios — não é como se os jovens valentões ameaçassem uns aos outros com armas nucleares — nem o declínio nos estupros, violência doméstica, pena capital, bullying e abuso infantil. Nem pode explicar mudanças institucionalizadas, como a abolição da tortura, de execuções, de castigos corporais, da escravidão e da criminalização da homossexualidade.
Mesmo na arena das relações internacionais, a teoria da paz nuclear é implausível. As nações não nucleares também não lutam entre si (Canadá e Espanha não foram à guerra por causa de sua disputa por peixe, embora nenhum desses países tenha medo de ser bombardeado pelo outro), e quando as guerras estouram, muitas vezes é uma guerra de uma nação não nuclear contra uma nuclear: a Argentina provocou a Grã-Bretanha nas Malvinas, o Egito invadiu o Sinai, controlado por Israel, a China foi desafiada pelo Vietnã, a União Soviética pelos rebeldes afegãos e os Estados Unidos pelo Vietnã do Norte, Irã, Iraque, Panamá e Iugoslávia. Em cada caso, a força invasora ou desafiante sabia que uma resposta nuclear seria tão desproporcional e impensavelmente destrutiva que era efetivamente um blefe. Portanto, a explicação para a redução das guerras e das mortes na guerra deve estar em outro lugar.
Nos Estados Unidos, uma "epidemia de violência armada" é irrelevante para saber se a violência diminuiu. Há séculos há uma epidemia de violência armada nos Estados Unidos. A questão é como isso mudou com o tempo. Um declínio não é um desaparecimento, e fico continuamente surpreso com os "críticos" que parecem não entender o fato aritmético de que "t1 < t2" tem um significado diferente de "t1 = 0". Nos últimos 25 anos, a taxa de homicídios nos Estados Unidos caiu 60%. Ela não caiu para zero, e nunca cairá, mas uma redução dessa magnitude significa que centenas de milhares de pessoas poderão viver suas vidas normalmente, pessoas que [do contrário] estariam no túmulo, se a taxa tivesse permanecido a mesma.