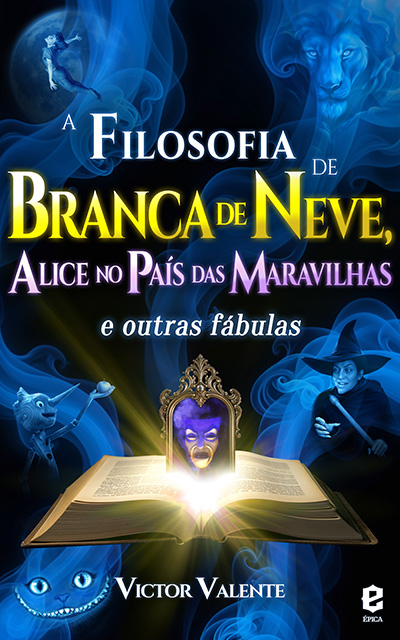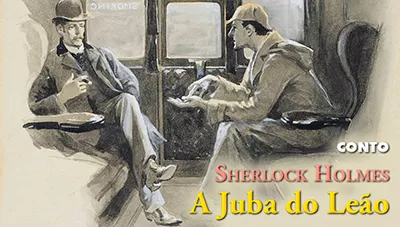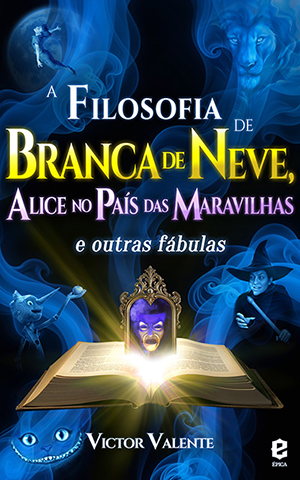Conto publicado no livro-coletânea Dublinenses,
de James Joyce, com primeira edição de 1914.

Lily, a filha do zelador, estava literalmente perdendo a cabeça. Mal levava um cavalheiro até a despensa lá atrás do escritório no térreo e ajudava o cavalheiro a tirar o sobretudo e já a campainha resmunguenta da porta de entrada batia de novo e ela precisava se descambar pelo corredor vazio para receber mais um convidado. Só faltava ela ter que cuidar das senhoras também. Mas a Srta. Kate e a Srta. Julia tinham pensado nisso e tinham transformado o banheiro do primeiro andar num camarim para as senhoras. A Srta. Kate e a Srta. Julia estavam lá, fofocando e rindo e fazendo cena, indo uma atrás da outra até o alto da escada, espiando por cima da balaustrada e gritando para Lily dizer quem tinha chegado.
Era sempre grande coisa, o baile anual das senhoritas Morkan. Vinha todo mundo que conhecia as duas, gente da família, velhos amigos da família, os membros do coro de Julia, todos os alunos de Kate que fossem grandinhos, e até um ou outro dos alunos de Mary Jane, também. Nunca era sem graça. Por anos a fio o baile tinha sido um sucesso esplêndido, até onde a memória alcançava; desde que Kate e Julia, depois da morte de Pat, o irmão delas, tinham se mudado da casa de Stoney Batter e trazido Mary Jane, que era a única sobrinha, para morar com elas naquela casa escura e soturna na Usher´s Island, no piso superior, que elas tinham alugado do Sr. Fulham, da venda de grãos no térreo. Isso tinha já bem trinta anos. Mary Jane, que na época era uma menininha de roupinha curta, agora era o centro da casa, pois era ela que tocava órgão na Haddington Road. Ela estudou no Conservatório e dava um concerto com os alunos dela todo ano na sala de cima do Antient Concert Rooms. Vários alunos dela eram das famílias mais bem de vida na linha Kingstown-Dalkey. Por mais que estivessem velhas, as tias dela também faziam sua parte. Julia, apesar de estar bem grisalha, ainda era a soprano principal na igreja de Adão e Eva, e Kate, fraquinha demais para andar muito por aí, dava aula de música para iniciantes naquele piano velho de armário no quarto dos fundos. Lily, a filha do zelador, trabalhava de arrumadeira para elas. Apesar de levarem uma vida simples, elas acreditavam em comer bem; o melhor de tudo: carne de primeira, chá de três xelins e cerveja preta engarrafada da melhor. Mas Lily quase nunca se atrapalhava com as compras, para não irritar as três patroas. Elas eram de fazer cena, só isso. Mas a única coisa que elas não toleravam mesmo era uma resposta malcriada.
Está certo que elas tinham por que fazer cena numa noite dessas. E também já passava bastante das dez e ainda nada de Gabriel e da esposa. Além de tudo elas estavam morrendo de medo que o Freddy Malins acabasse aparecendo torto. Elas não queriam nem pensar que um dos aluninhos de Mary Jane pudesse ver o Freddy alcoolizado; e quando ele estava daquele jeito às vezes era bem difícil lidar com ele. Freddy Malins sempre chegava tarde, mas elas estavam cismadas com o motivo da demora de Gabriel: por isso as duas iam de dois em dois minutos até a balaustrada perguntar a Lily se Gabriel ou Freddy tinham chegado.
— Ah, senhor Conroy — Lily disse a Gabriel quando abriu a porta para ele —, a senhorita Kate e a senhorita Julia estavam achando que o senhor nem vinha mais. Boa noite, senhora Conroy.
— Eu não hei de duvidar que estavam — disse Gabriel —, mas elas esqueceram que a minha esposa me mata de esperar quando tem de se trocar.
Ele ficou no capacho, raspando a neve das galochas, enquanto Lily levava a esposa dele até o pé da escada e gritava:
— Senhorita Kate, olha a senhora Conroy.
Kate e Julia titubearam simultâneas pela escada escura. Beijaram ambas a esposa de Gabriel, disseram que ela devia estar mortinha de frio, e perguntaram se Gabriel estava com ela.
— Eu estou aqui, tia Kate, pode apostar! Vá subindo. Eu já vou também — veio a voz de Gabriel do escuro.
Ele continuou a raspar vigorosamente os pés enquanto as três mulheres subiam, rindo, para o camarim das senhoras. Uma frágil franja de neve pousava como capa nos ombros de seu sobretudo e como bicos sobre as pontas das galochas; e, enquanto os botões do sobretudo deslizavam num rangido pelas casas que a neve enrijecera, um ar gelado, com cheiro de lá-fora, escapava de dobras e pregas.
— Está nevando de novo, senhor Conroy? — perguntou Lily.
Ela havia ido na frente dele até a despensa para ajudá-lo a tirar o sobretudo. Gabriel sorriu por causa das três sílabas que ela dera a seu sobrenome e lhe lançou um olhar ligeiro. Era uma menina magra; ainda estava crescendo, pele pálida e cabelo cor de palha. A luz a gás da despensa a deixava mais pálida ainda. Gabriel a conhecia desde que era menina e ficava sentada no primeiro degrau com uma boneca de pano no colo.
— Está, Lily — ele respondeu —, e acho que vai ser a noite toda.
Ele olhou para o teto da despensa, que vibrava com os pés que martelavam e deslizavam no andar de cima, ficou um momento tentando ouvir o piano e aí olhou para a menina, que com cuidado guardava seu sobretudo dobrado na ponta de uma prateleira.
— Me diz uma coisa, Lily — falou numa voz amistosa —, você ainda está na escola?
— Ah, não, senhor — ela respondeu. — Chega de escola já esse ano.
— Ah, mas então — disse Gabriel, alegre — suponho que qualquer dia desses nós estejamos indo ao seu casamento com o seu namoradinho, hein?
A menina olhou para ele por cima do ombro e disse com grande amargura:
— Esses sujeitos de hoje em dia só querem saber de palavrório e de ver o que que eles conseguem de você.
Gabriel corou, como sentindo que houvesse cometido um erro e, sem olhar para ela, livrou-se das galochas e com o cachecol chicoteou detidamente seus sapatos de verniz.
Era um rapaz corpulento, mais para alto que baixo. A cor exaltada de seu rosto erguia-se até a testa, onde se estilhaçava em uns poucos pedaços de tênue rubor; e no rosto sem barba brilhavam inquietas as lentes bem limpas e os aros de luzes douradas dos óculos que lhe toldavam os olhos delicados e inquietos. Seu cabelo preto e lustroso estava dividido no meio e penteado numa longa curva por trás das orelhas, onde cacheava leve sob o sulco que lhe causara o chapéu.
Quando o chicote lustrara os sapatos, ele se ergueu e puxou melhor o colete sobre o corpo roliço. E então tirou veloz uma moeda do bolso.
— Ah, Lily — ele disse, metendo a moeda nas mãos dela —, ainda é tempo de Natal, não é mesmo? É só... toma um...
Ele caminhou velozmente para a porta.
— Ah, não, senhor! — gritou a menina, indo atrás dele.
— De verdade, seu Gabriel, eu nem posso aceitar uma coisa dessa.
— É tempo de Natal! É tempo de Natal! — disse Gabriel, quase a trote rumo à escada e acenando como quem desconsidera.
A menina, vendo que ele chegara à escada, exclamou atrás dele:
— Bom, obrigada, então, seu Gabriel.
Ficou esperando à porta da sala até que esta valsa acabasse, ouvindo as saias que roçavam contra ela e os pés que deslizavam. Ainda estava descomposto pela resposta súbita e amarga da moça. Aquilo toldara-lhe o humor, que ele tentava desanuviar ajeitando os punhos da camisa e os laços da gravata. Tirou então do bolso do colete um papelzinho e deu uma olhada nas notas que tinha tomado para seu discurso. Estava indeciso quanto aos versos de Robert Browning, pois receava que fossem demais para seu público. Alguma citação que eles reconhecessem, de Shakespeare ou das Melodias, seria melhor. O estalido indelicado dos tacos dos homens e suas solas deslizantes o lembravam-lhe que o nível cultural deles era diferente do seu. Ele só ia passar ridículo citando um poema que eles não conseguiam entender. Iam achar que ele só estava exibindo sua educação superior. Ele ia deixá-los na mão como tinha deixado na mão a moça na despensa. Tinha assumido um tom errado. Aquele discurso todo era um equívoco do começo ao fim, um fracasso total.
Bem naquele momento suas tias e sua esposa saíram do camarim das senhoras. As tias dele eram duas velhinhas pequenas, com roupas simples. Tia Julia era uns dois centímetros mais alta. O cabelo dela, puxado para cobrir todo o topo das orelhas, era cinza; e cinza também, com sombras mais negras, seu grande rosto frouxo. Conquanto fosse corpulenta e permanecesse ereta, seus olhos lentos e lábios abertos lhe davam a aparência de uma mulher que não sabia onde estava ou aonde ia. Tia Kate era mais viva. Seu rosto, mais saudável que o da irmã, era todo covas e rugas, como uma maçã vermelha murcha, e o cabelo, trançado à mesma maneira antiquada, não tinha perdido sua cor de castanhas maduras.
Beijaram ambas Gabriel calorosamente. Ele era o sobrinho preferido delas, filho da irmã morta, Ellen, que tinha se casado com T. J. Conroy dos Portos e Docas.
— A Gretta me disse que vocês não vão pegar um fiacre para voltar para Monkstown hoje, Gabriel — disse tia Kate.
— Não — disse Gabriel, virando-se para a esposa —, ano passado já foi demais, não é mesmo? A senhora não lembra, tia Kate, o resfriado que a Gretta acabou pegando? O fiacre com as janelas sacolejando daqui até lá, e o vento leste entrando na cabine depois que nós passamos por Merrion. Foi uma delícia. A Gretta pegou um resfriado horrível.
Tia Kate fazia uma cara seriíssima e sacudia a cabeça a cada palavra.
— Isso mesmo, Gabriel, isso mesmo — ela dizia. — Cuidado nunca é demais.
— Mas a Gretta aqui — disse Gabriel — se deixassem ia a pé para casa na neve.
A Sra. Conroy riu.
— Não dê bola para ele, tia Kate — ela disse. Ele é um grande chato, agora com aquela máscara verde de noite nos olhinhos do Tom e obrigando o menino a fazer halteres, e forçando a Eva a comer mingau. Coitadinha! E ela simplesmente odeia a cara daquilo!... Ah, mas a senhora nunca vai imaginar o que é que ele me força a usar agora!
Ela caiu numa risada sonora e lançou um olhar para o marido, cujos olhos encantados e felizes andavam errando de seu vestido a seu rosto e cabelo. As duas tias riram empolgadas também, pois a solicitude de Gabriel era sempre uma piada entre elas.
— Galochas! — disse a Sra. Conroy. — Era o que me faltava. Toda vez que fica úmido eu tenho que pôr as minhas galochas. Até hoje, ele queria que eu calçasse, mas eu é que não ia usar. Qualquer dia desses ele vai me comprar uma roupa de mergulho.
Gabriel ria nervoso e dava tapinhas de consolo na gravata, enquanto tia Kate quase rachava de rir, de tanto que gostou da piada. O sorriso súbito sumiu do rosto de tia Julia e seus olhos apagados dirigiram-se ao rosto do sobrinho. Depois de uma pausa, ela perguntou:
— E o que é que são essas galochas, Gabriel?
— Galochas, Julia! — exclamava sua irmã. Santo Deus, você não sabe o que é uma galocha? A gente usa assim por cima... por cima da bota, não é, Gretta?
— Isso — disse a Sra. Conroy. — Umas coisas de guta- percha. Agora nós temos um par cada um. O Gabriel diz que todo mundo está usando no Continente.
— Ah, no Continente — murmurou tia Julia, balançando lenta a cabeça.
Gabriel cerrou as sobrancelhas e disse, como se estivesse levemente contrafeito:
— Não é nenhuma maravilha, mas a Gretta acha muito engraçado porque ela diz que a palavra parece coisa dos menestréis de Christy.
— Não me conte, Gabriel — disse tia Kate, com ríspido tato. — Claro que você providenciou um quarto. A Gretta estava dizendo...
— Ah, o quarto está certinho — replicou Gabriel. — Eu reservei no Gresham.
— Lógico — disse tia Kate —, de longe o melhor que você podia fazer. E as crianças, Gretta, você não fica preocupada com eles?
— Ah, uma noite só — disse a Sra. Conroy. — Além disso, a Bessie vai cuidar deles.
— Lógico — disse tia Kate de novo. — Que conforto ter uma menina dessas, assim de confiança! Tem aquela Lily, e eu é que não sei o que deu nela ultimamente. Nem parece mais a mesma.
Gabriel estava a ponto de fazer algumas perguntas à tia sobre isso, mas ela de repente se interrompeu para desviar o olhar para a irmã, que tinha descido alguns degraus e esticava o pescoço por sobre a balaustrada.
— Mas, por favor — ela disse, quase irritada —, aonde é que vai a Julia? Julia! Julia! Aonde é que você vai?
Julia, que tinha descido metade de um lance, voltou e anunciou inalterada:
— Olha o Freddy.
No mesmo momento as palmas e mais um floreio final do piano disseram que a valsa acabara. A porta da sala de estar foi aberta por dentro e alguns casais saíram. Tia Kate puxou Gabriel de canto apressada e sussurrou no ouvido dele:
— Dá uma descidinha, Gabriel, seja bonzinho, para ver se ele está bem, e não me deixe ele subir se ele estiver torto. Eu tenho certeza que ele está torto. Certeza.
Gabriel foi até a escada e ficou ouvindo da balaustrada. Podia ouvir duas pessoas conversando na despensa. E aí reconheceu a risada de Freddy Malins. Ele desceu as escadas sem nenhum ruído.
— Mas que alívio — disse tia Kate à Sra. Conroy — o Gabriel estar aqui. Eu sempre fico mais tranquila quando ele está... Julia, a senhorita Daly e a senhorita Power vão querer uns refrescos. Obrigada pela linda valsa, senhorita Daly. Foi um encanto.
Um homem alto e de cara encarquilhada, com um duro bigode grisalho e pele avermelhada, que passava com sua acompanhante, disse:
— E será que nós também podemos tomar um refresco, senhorita Morkan?
— Julia — disse tia Kate sumariamente —, e olha aqui o senhor Browne e a senhorita Furlong. Leve os dois para dentro, Julia, e a senhorita Daly e a senhorita Power.
— Eu sou o homem das senhoritas — disse o Sr. Browne, cerrando os lábios até eriçar o bigode e sorrindo por todas as rugas. — Sabe, senhorita Morkan, o motivo de elas gostarem tanto de mim é...
Ele não terminou a frase mas, vendo que tia Kate já ia longe, imediatamente conduziu as três moças para a sala dos fundos. O meio do cômodo estava tomado por duas mesas quadradas emendadas, e nelas tia Julia e o zelador ajeitavam e alisavam uma grande toalha. No aparador dispunham-se pratos e salvas, e copos e feixes de facas, colheres e garfos. O topo do piano de armário fechado servia também de aparador para viandas e doces. Diante de um aparador menor a um canto estavam parados dois rapazes, bebendo bíter de lúpulo.
O Sr. Browne conduziu para lá suas protegidas e ofereceu a todas, jocosamente, um ponche para damas, quente, forte e doce. Como disseram que nunca bebiam coisas fortes, ele abriu três garrafas de limonada para elas. Aí pediu que um dos rapazes se afastasse e, tomando posse do decantador, serviu-se de uma bela dose de uísque. Os rapazes olhavam respeitosos enquanto ele provava um gole.
— Deus que me ajude — ele disse, sorrindo —, mas isso aqui é bem o que o médico receitou.
Seu rosto encarquilhado rasgou-se em sorriso mais amplo, e o riso das três moças ecoou musicalmente seu gracejo, enquanto balançavam o corpo para a frente e para trás, com nervosos espasmos dos ombros. A mais audaciosa disse:
— Ai, senhor Browne, eu sei muito bem que o médico nunca receitou uma coisa dessas.
O senhor Browne tomou mais um golinho do uísque e disse, num arremedo de confidencialidade:
— Bom, é que, sabe, eu sou como a famosa senhora Cassidy, que dizem que falou: Mas, Mary Grimes, se eu não tomar, me faça tomar, porque eu estou sentindo que eu quero tomar.
O rosto quente dele se inclinara um tanto cúmplice demais e ele tinha adotado um sotaque dublinense muito baixo, de modo que as moças, com um mesmo instinto todas, silentes, receberam sua fala. A Srta. Furlong, que era uma das alunas de Mary Jane, perguntou à Srta. Daly qual o nome da valsinha bonita que ela tocou; e o Sr. Browne, vendo-se ignorado, virou-se prontamente para os dois rapazes que eram mais apreciativos.
Uma moça enrubescida, trajando amor-perfeito, entrou na sala, batendo palmas empolgada e gritando:
— Quadrilhas! Quadrilhas!
Nos calcanhares dela vinha a tia Kate, gritando:
— Dois cavalheiros e três damas, Mary Jane!
— Ah, olha aqui o senhor Bergin e o senhor Kerrigan — disse Mary Jane. — Senhor Kerrigan, o senhor dança com a senhorita Power? Senhorita Furlong, posso lhe arrumar um par, o senhor Bergin. Ah, assim fica certinho.
— Três damas, Mary Jane — disse tia Kate.
Os dois rapazes perguntaram às moças se elas lhes dariam o prazer, e Mary Jane virou-se para a Srta. Daly.
— Ah, senhorita Daly, a senhorita é tão boazinha, depois de tocar as duas últimas, mas é que hoje nós estamos tão mal providas de damas.
— Eu não me incomodo mesmo, senhorita Morkan.
— Mas eu tenho um par perfeito para a senhorita, o senhor Bartell D´Arcy, o tenor. Eu vou fazer ele cantar mais tarde. A cidade inteira está maluca por causa dele.
— Uma voz linda, linda! — disse tia Kate.
Como o piano tinha começado duas vezes o prelúdio à primeira figura, Mary Jane conduziu velozmente seus recrutas para a sala. Eles mal acabavam de sair quando tia Julia foi entrando devagar na sala, olhando alguma coisa por sobre o ombro.
— O que foi, Julia? — perguntou Kate, tensa. — Quem é?
Julia, que trazia uma coluna de guardanapos, virou-se para a irmã e disse, simplesmente, como se a pergunta fosse uma surpresa:
— É só o Freddy, Kate, e o Gabriel com ele.
De fato logo atrás dela via-se Gabriel pilotando Freddy Malins pelo patamar. Este último, um homem de cerca de quarenta anos, era do tamanho e do porte de Gabriel, com ombros bem redondos. Seu rosto era carnudo e pálido, tocado de cor somente nos grossos lóbulos pendentes das orelhas e nas amplas abas das narinas. Tinha traços grosseiros, um nariz curto, uma testa convexa e reentrante, lábios túmidos e projetados. Os olhos de pesadas pálpebras e a desordem de seu cabelo ralo davam-lhe um ar de sono. Ria animado em tom agudo de uma estória que vinha contando a Gabriel na escada e esfregava ao mesmo tempo os nós dos dedos do punho esquerdo para trás e para a frente no olho esquerdo.
— Boa noite, Freddy — disse tia Julia.
Freddy Malins deu boa-noite para as senhoritas Morkan de um jeito que pareceu meio descuidado em razão de sua voz sempre embargada e aí, vendo que o Sr. Browne sorria para ele do aparador, atravessou a sala com passo pouco firme e se pôs a repetir a meia-voz a estória que acabara de contar a Gabriel.
?
Ele não está tão mal assim, não é? — disse tia Kate para Gabriel.
?
As sobrancelhas de Gabriel estavam pesadas, mas ele as ergueu rapidamente e respondeu:
— Ah, não, mal se percebe.
— Mas me diga se ele não é terrível! — ela disse. — E a coitada da mãe dele fez ele jurar na véspera do Ano- Novo. Mas vamos, Gabriel, vamos para a sala de estar.
Antes de sair da sala com Gabriel, ela fez um sinal para o Sr. Browne fechando o rosto e sacudindo o indicador de um lado para o outro, um aviso. O Sr. Browne aquiesceu com a cabeça e, quando ela saiu, disse para Freddy Malins:
— Mas, então, Freddy, eu vou te servir um belo de um copo de limonada só para te dar uma sacudida.
Freddy Malins, que chegava ao clímax da estória, dispensou impaciente com um gesto a oferta, porém o Sr. Browne, depois de ter chamado a atenção de Freddy Malins para o estado de suas roupas, encheu e entregou- lhe um copo cheio de limonada. A mão esquerda de Freddy Malins aceitou o copo mecanicamente, estando a direita ocupada na mecânica correção de seus trajes. O Sr. Browne, cujo rosto novamente se enrugava de alegria, serviu-se de um copo de uísque enquanto Freddy Malins explodia, antes de ter chegado bem ao clímax da estória, numa espécie de risada estridente e bronquítica e, largando seu copo intocado e transbordante, começava a esfregar os nós dos dedos do punho esquerdo para trás e para a frente no olho esquerdo, repetindo palavras de sua última frase na medida em que lhe permitia o ataque de riso.
Gabriel não conseguia prestar atenção enquanto Mary Jane tocava sua peça de conservatório, cheia de escalas e trechos difíceis, para uma sala de estar reverente. Ele gostava de música mas a peça que ela estava tocando não tinha melodia para ele e ele duvidava que tivesse qualquer melodia para os outros ouvintes, embora eles houvessem implorado para Mary Jane tocar alguma coisa. Quatro rapazes, que ao som do piano tinham vindo da sala de refrescos para ficar parados à porta, saíram silenciosos depois de alguns minutos. As únicas pessoas que pareciam seguir a música eram a própria Mary Jane, mãos correndo pelas teclas ou delas erguidas nas pausas como as de uma sacerdotisa em momentânea imprecação, e tia Kate parada ao lado dela para virar as páginas.
Os olhos de Gabriel, irritados pelo piso, que brilhava de cera de abelhas sob o pesado candelabro, acabaram na parede acima do piano. Um quadro da cena do balcão de Romeu e Julieta ficava ali e ao lado dele um quadro dos dois príncipes mortos na Torre que tia Julia tinha feito com lã vermelha, azul e marrom quando menina. Provavelmente na escola que frequentaram quando meninas, elas tiveram um ano de aula desse tipo de trabalho. A mãe dele fizera-lhe de presente de aniversário um colete de popelina roxa, com cabecinhas de raposa, forrado de cetim marrom, com botões redondos de amora. Era estranho a mãe dele não ter talento para a música embora a tia Kate sempre dissesse que era ela quem carregava os miolos da família Morkan. Tanto ela quanto Julia sempre pareceram sentir um pouco de orgulho da irmã séria e matronal. A fotografia dela ficava diante do espelho, entre as janelas. Ela estava com um livro aberto no colo e apontava nele alguma coisa para Constantine que, vestido de marinheiro, estava aos pés dela. Foi ela quem escolheu os nomes dos filhos pois levava muito a sério a dignidade da vida em família. Graças a ela, Constantine era agora vigário assistente em Balbrigan e, graças a ela, o próprio Gabriel tinha se formado na Royal University. Uma sombra toldou-lhe o rosto quando lembrou a taciturna oposição da mãe a seu casamento. Certas expressões de desdém que ela empregara ardiam ainda em sua memória; ela uma vez dissera que Gretta era uma bela do interior e isso não era verdade quanto a Gretta, não mesmo. Foi Gretta quem cuidou dela durante sua última longa doença na casa deles em Monkstown.
Ele sabia que Mary Jane devia estar chegando ao fim da peça, pois estava tocando de novo a melodia da abertura com escalas depois de cada compasso, e enquanto esperava o fim o ressentimento ia morrendo em seu peito. A peça terminou num trinado de oitavas na mão direita e uma funda oitava final nos baixos. Uma grande salva de palmas saudava Mary Jane enquanto, corando e enrolando nervosa a partitura, ela escapava da sala. Os aplausos mais vigorosos vieram dos quatro rapazes parados à porta, que tinham saído para a sala de refrescos no começo da peça mas voltado quando o piano parou.
Preparam-se os lanceiros. Gabriel se viu de par com a senhorita Ivors. Ela era uma mocinha de modos diretos e bem-falante, com um rosto coberto de sardas e proeminentes olhos castanhos. Ela não estava com um corpete decotado, e o grande broche que trazia preso à parte da frente de seu colarinho tinha um emblema irlandês e um lema gaélico.
Quando assumiram seus lugares, ela disse abruptamente:
— Eu tenho que passar uma coisinha a limpo com o senhor.
— Comigo? — disse Gabriel. Ela aquiesceu com seriedade.
— E o que é? — perguntou Gabriel, sorrindo dos modos solenes dela.
— Quem é G. C.? — respondeu a Srta. Ivors, voltando os olhos para ele.
Gabriel enrubesceu e estava prestes a fechar o rosto, como quem não entendeu, quando ela disse rispidamente:
— Ah, coitadinha da Mariazinha, tão inocente! Eu descobri que o senhor escreve para The Daily Express. Ora, mas o senhor não tem vergonha?
— E por que eu deveria ter vergonha disso? — perguntou Gabriel, piscando os olhos e tentando sorrir.
— Bom, eu estou com vergonha do senhor — disse a Srta. Ivors com franqueza. — Quem diria que o senhor escreveria para um jornal desses. Eu não achava que o senhor fosse anglófilo.
Uma expressão de perplexidade surgiu no rosto de Gabriel. Era verdade que ele escrevia uma coluna literária toda quarta no Daily Express, que lhe rendia quinze xelins. Mas com certeza isso não o transformava em anglófilo. Os livros que recebia para resenhar eram quase mais bem-vindos que o chequezinho miserável. Ele adorava passar a mão pelas capas e ir virando as páginas de livros recém-impressos. Quase todo dia quando suas aulas na universidade acabavam ele seguia pelo cais até os vendedores de livros usados, o Hickey na Bachelor´s Walk, o Webb ou o Massey no Aston´s Quay, ou o O´Clohissey na travessa. Ele não sabia como responder à acusação dela. Queria dizer que a literatura estava acima da política. Mas eles eram amigos de longa data e suas carreiras tinham sido paralelas, primeiro na universidade e depois como professores: não podia arriscar uma frase de efeito com ela. Ele continuava piscando os olhos e tentando sorrir e murmurou inocuamente que não via o que houvesse de política no ato de resenhar livros.
Quando chegou a vez de eles trocarem ele ainda estava pasmado e desligado. A Srta. Ivors prontamente segurou a mão dele em sua palma quente e disse num tom calmo e amistoso:
— É claro que eu só estava brincando. Vem, agora a gente troca.
Quando estavam novamente juntos ela falou da questão universitária e Gabriel se sentiu mais à vontade. Uma amiga dela lhe havia mostrado a resenha que ele fizera dos poemas de Browning. Foi assim que ela descobriu o segredo: mas ela gostou demasiado da resenha. Então ela disse repentinamente:
— Ah, senhor Conroy, o senhor viria numa excursão para as ilhas Aran no verão? Nós vamos ficar lá um mês inteiro. Vai ser esplêndido, lá no Atlântico. O senhor devia ir conosco. O senhor Clancy vai, e o senhor Kilkelly e a Kathleen Kearney. Seria esplêndido para a Gretta também se ela fosse. Ela é de Connacht, não é?
— A família dela — disse Gabriel brevemente.
— Mas o senhor vai conosco, não vai? — disse a Srta. Ivors, pondo a mão quente, ansiosamente, no braço dele.
— A questão — disse Gabriel — é que eu acabei de marcar uma viagem...
— Mas para onde? — perguntou a Srta. Ivors.
— Bom, nós normalmente vamos para a França ou para a Bélgica ou quem sabe a Alemanha — disse Gabriel sem jeito.
— E por que vocês vão à França e à Bélgica — disse a Srta. Ivors —, ao invés de visitar a sua própria terra?
— Bom — disse Gabriel —, um pouco para não perder contato com os idiomas e um pouco pela mudança de ares.
— E o senhor não tem de manter contato com o seu próprio idioma, o gaélico? — perguntou a Srta. Ivors.
— Bom, disse Gabriel, a bem da verdade, sabe, o gaélico não é a minha língua.
Os vizinhos deles tinham se virado para ouvir o interrogatório. Gabriel espiava nervoso à direita e à esquerda e tentava manter o bom humor durante aquele suplício, que fazia com que um rubor lhe tomasse a testa.
— E o senhor não tem que visitar a sua própria terra — continuava a senhorita Ivors —, que o senhor mal conhece, ou o seu próprio povo, e o seu próprio país?
— Ah, para ser sincero — retorquiu Gabriel subitamente —, eu estou cheio do meu país, cheio!
— Por quê? — perguntou a Srta. Ivors.
Gabriel não respondeu, pois estava fervendo depois de sua reação.
— Por quê? — repetiu a Srta. Ivors.
Eles tinham que se aproximar juntos dos outros pares e, como ele não lhe dera uma resposta, a Srta. Ivors disse afetuosamente:
— É claro que o senhor não tem resposta.
Gabriel tentou disfarçar sua agitação entregando-se à dança com muita energia. Ele evitava o olhar dela, pois tinha visto em seu rosto uma expressão amarga. Mas quando se encontraram na grande corrente ele ficou surpreso ao sentir sua mão apertada com vigor. Ela olhou para ele por sob as sobrancelhas por um momento, estranhamente, até ele sorrir. Aí, bem quando a corrente estava prestes a recomeçar, ela se pôs na ponta dos pés e sussurrou no ouvido dele:
— Anglófilo!
Quando acabaram os lanceiros Gabriel se recolheu a um canto afastado da sala onde estava sentada a mãe de Freddy Malins. Era uma velha corpulenta, frágil, de cabelos brancos. Sua voz era embargada como a do filho e ela gaguejava um pouco. Tinham-lhe dito que Freddy tinha chegado e que ele estava quase bem. Gabriel lhe perguntou se tinha feito boa travessia. Ela morava com a filha casada em Glasgow e visitava Dublin uma vez por ano. Ela respondeu placidamente que a travessia tinha sido linda e que o capitão fora muito atencioso com ela. Ela também falou da linda casa da filha em Glasgow, e de todos os amigos que tinham por lá. Enquanto a língua dela batia, Gabriel tentava banir de sua mente toda e qualquer lembrança do desagradável incidente com a Srta. Ivors. Claro que a moça, ou mulher, ou fosse lá ela o que fosse, era uma entusiasta, mas tudo tinha seu tempo. Talvez ele não devesse ter-lhe respondido daquele jeito. Mas ela não tinha direito de chamá-lo de anglófilo na frente dos outros, nem de brincadeira. Ela havia tentado fazê-lo passar ridículo na frente dos outros, com aquela tortura e com aquele olhar de coelhinho.
Ele viu a esposa abrindo caminho até ele por entre os casais que valsavam. Quando chegou até ele ela disse- lhe no ouvido:
— Gabriel, a tia Kate quer saber se você podia trinchar o ganso como sempre. A senhorita Daly vai cortar o presunto e eu sirvo a sobremesa.
— Tudo bem — disse Gabriel.
— Ela vai mandar os mais novos assim que essa valsa acabar, para nós podermos ficar com a mesa só para nós.
— Você estava dançando? — perguntou Gabriel.
— Claro que estava. Você não me viu? Que discussão você teve com a Molly Ivors?
— Discussão nenhuma. Por quê? Foi ela quem disse?
— Mais ou menos. Eu estou tentando convencer o senhor D´Arcy a cantar. Ele é todo cheio de si, parece.
— Não houve discussão — disse Gabriel contrariado —, só que ela queria que eu fosse numa viagem para o oeste da Irlanda e eu disse que não ia.
A esposa dele cerrou as mãos empolgada e deu um pulinho.
— Ah, aceita, Gabriel — ela gritou. — Eu ia adorar ver Galway de novo.
— Pode ir, se quiser — disse Gabriel friamente.
Ela ficou um momento olhando para ele, então se virou para a Sra. Malins e disse:
— Isso é que é um bom marido, não é mesmo, senhora Malins?
Enquanto ela retraçava seus passos pela sala a Sra. Malins, sem se dar conta da interrupção, continuou falando a Gabriel dos lindos lugares que havia na Escócia e das lindas paisagens. O genro dela levava todos, todo ano, para os lagos e eles iam pescar. O genro dela era um pescador esplêndido. Um dia ele pegou um peixão lindo e o homem do hotel preparou o peixe para o jantar deles.
Gabriel mal ouvia o que ela dizia. Agora que estava chegando a hora da ceia ele começou a pensar de novo em seu discurso e na citação. Quando viu Freddy Malins atravessando a sala para ver a mãe, Gabriel deixou a cadeira livre para ele e se retirou para a soleira da janela. A sala já tinha esvaziado e da sala dos fundos vinha o bater de pratos e facas. Os que ainda restavam na sala de estar pareciam cansados de dançar e conversavam tranquilos em pequenos grupos. Os dedos quentes e trêmulos de Gabriel batucavam no vidro frio. Como deve estar fresco lá fora! Como seria agradável sair sozinho para uma caminhada, primeiro seguindo o rio e depois cruzando o parque! A neve estaria acumulada nos ramos das árvores e formaria um claro capuz sobre o monumento de Wellington. Como seria mais agradável estar lá que à mesa da ceia! Ele reviu os tópicos de seu discurso: a hospitalidade irlandesa, lembranças tristes, as Três Graças, Páris, a citação de Browning. Ele repetiu em voz baixa uma frase que tinha escrito na resenha: Sentimos estar ouvindo uma música assolada por ideias. A Srta. Ivors elogiara a resenha. Mas será que era sincera? Será que ela tinha vida própria, além daquele propagandismo todo? Nunca houvera nenhum rancor entre eles até aquela noite. Ele se desanimava ao lembrar que ela estaria à mesa da ceia, com os olhos erguidos para ele, enquanto ele falasse, com aqueles olhos interrogativos e críticos. Talvez ela não lamentasse vê-lo fracassar no discurso. Uma ideia lhe veio à mente e lhe deu coragem. Ele diria, numa alusão a tia Kate e a tia Julia: Senhoras e senhores, a geração que ora se recolhe diante de nós terá tido seus defeitos, mas de minha parte penso que tinha certas qualidades de hospitalidade, de humor, de humanidade, que a geração mais nova, extremamente séria e hipereducada que está crescendo a nossa volta parece não ter. Muito bom: essa ia acertar a Srta. Ivors. Pouco se lhe dava que suas tias fossem somente duas velhinhas ignorantes.
Um burburinho na sala atraiu sua atenção. O Sr. Browne vinha da porta, escoltando galante a tia Julia, que se apoiava em seu braço, sorrindo com a cabeça de lado. Uma rajada irregular de aplausos também a escoltou até o piano e então, enquanto Mary Jane se sentava no banquinho e tia Julia, sem mais sorrisos, virava-se um pouco de modo a colocar a voz adequadamente na sala, aos poucos cessou. Gabriel reconheceu o prelúdio. Era uma das velhas canções de tia Julia — " Arrayed for the bridal". Sua voz, timbre forte e límpido, atacava com grande ímpeto os ornamentos que enfeitam a ária e, embora cantasse muito rápido, ela não perdia nem sequer a menor das apojaturas. Acompanhar a voz, sem olhar para o rosto da cantora, era sentir e compartir a empolgação de um voo veloz e calmo. Gabriel aplaudiu bem alto com todos os outros ao fim da canção, e da invisível mesa da ceia veio um forte aplauso. Aquilo parecia tão sincero que um leve rubor conquistou um pouco do rosto de tia Julia enquanto ela se curvava para recolocar na estante de partituras o velho cancioneiro cujas capas de couro traziam suas iniciais. Freddy Malins, que tinha ouvido com a cabeça posta de lado para escutar melhor, aplaudia ainda quando todos tinham já parado e falava animado com a mãe, que aquiescia solene e lentamente com a cabeça. Finalmente, quando não conseguia mais aplaudir, ele se levantou de um salto e atravessou correndo a sala para agarrar a mão de tia Julia e segurá-la entre as suas, sacudindo a mão dela quando lhe faltavam as palavras ou sua voz se embargava demais.
— Eu estava agorinha mesmo dizendo para a minha mãe — ele disse — que nunca ouvi a senhora cantar tão bem assim, nunca. Não, eu nunca vi a sua voz tão bem quanto hoje. Ora! Ora, dá para a senhora acreditar? Mas é verdade. Juro por tudo que me é mais caro que é verdade. Eu nunca vi a sua voz tão fresca e tão... tão clara e tão fresca, nunca.
Tia Julia sorriu largo e murmurou algo a respeito de elogios enquanto libertava a mão do aperto das dele. O Sr. Browne estendeu sua mão aberta na direção dela e disse aos que estavam perto dele, à maneira de um empresário que apresenta um prodígio para o público:
— Senhorita Julia Morkan, minha mais recente descoberta!
Ele estava rindo desbragadamente, sozinho, quando Freddy Malins se virou para ele e disse:
— Pois, Browne, se você está falando sério eu te digo que você podia descobrir coisa bem pior. Eu só posso é dizer que nunca vi ela cantar tão bem nesse tempo todo que eu venho aqui, nem de longe. E isso é verdade verdadeira.
— Nem eu — disse o Sr. Browne. Acho que a voz dela melhorou sobremaneira.
Tia Julia deu de ombros e disse com orgulho manso:
— Trinta anos atrás até que a minha voz não era de se jogar fora.
— Eu vivia dizendo para a Julia — disse tia Kate enfaticamente — que ela era simplesmente um desperdício naquele coro. Mas ela nunca me dava ouvidos.
Ela se virou como quem apela para o bom senso dos outros contra uma criança refratária, enquanto tia Julia olhava fixamente adiante, com um vago sorriso de reminiscências brincando no rosto.
— Não — continuava a tia Kate —, ela não dava ouvidos e não seguia ninguém, labutando lá naquele coro noite e dia, noite e dia. Seis da manhã no dia do Natal! E tudo em nome de quê?
— Bom, não seria em nome de Deus, tia Kate? — perguntou Mary Jane, girando no banquinho do piano e sorrindo.
Tia Kate voltou-se furiosa contra a sobrinha e disse:
— Eu sei muito bem disso do nome de Deus, Mary Jane, mas acho que não fica nada bem para o nome do papa ele expulsar as mulheres dos coros quando elas labutaram lá a vida inteira e colocar uns pirralhinhos que mal saíram dos cueiros no lugar delas. Imagino que é pelo bem da igreja, se é o papa que faz. Mas só que não é justo, Mary Jane, e não é certo.
Ela se deixara empolgar e teria continuado em defesa da irmã, pois era um tema que a incomodava, mas Mary Jane, vendo que todos os dançarinos tinham voltado, interveio pacificamente.
— Ora, tia Kate, a senhora está dando corda para o senhor Browne, que é da outra confissão.
Tia Kate se virou para o Sr. Browne, que estava sorrindo diante dessa alusão a sua religião, e disse apressada:
— Ah, eu não estou questionando a correção do papa. Eu sou só uma velha estúpida e não ia me meter a fazer uma coisa dessas. Mas é que tem coisas que são simplesmente questão de educação e de gratidão. E se fosse eu no lugar da Julia eu ia dizer bem na cara do padre Healey...
— E, além disso, tia Kate — disse Mary Jane —, está todo mundo com fome, e quando as pessoas ficam com fome elas ficam briguentas demais.
— E com sede elas também ficam briguentas — acrescentou o Sr. Browne.
— Então era melhor ir todo mundo para a ceia — disse Mary Jane —, e depois nós terminamos a discussão.
No patamar diante da sala de estar Gabriel encontrou sua esposa e Mary Jane tentando convencer a Srta. Ivors a ficar para a ceia. Mas a Srta. Ivors, que tinha posto o chapéu e estava abotoando a capa, não ia ficar. Ela não estava com a menor fome e já tinha ficado mais tempo do que devia.
— Mas só dez minutos, Molly — disse a Sra. Conroy. — Isso não há de te atrasar.
— Nem que seja uma boquinha — disse Mary Jane —, depois de tudo que você dançou.
— Eu não posso mesmo — disse a Srta. Ivors.
— Eu já estou achando que você nem se divertiu — disse Mary Jane perdendo as esperanças.
— Demais, isso eu garanto — disse a Srta. Ivors —, mas vocês precisam mesmo me deixar zarpar agora.
— Mas como é que você vai chegar em casa? — perguntou a Sra. Conroy.
— Ah, fica logo ali na esquina.
Gabriel hesitou um momento e disse:
— Com sua permissão, senhorita Ivors, eu a acompanho até sua casa se a senhorita realmente precisa ir.
Mas a Srta. Ivors se afastou deles.
— Nem pensar — ela exclamou. — Pelo amor de Deus, vocês vão para essa ceia e não se incomodem comigo. Eu sei muito bem me cuidar sozinha.
— Aiaiai, mas você é um azougue, Molly — disse a Sra. Conroy com franqueza.
— Beannacht libh — exclamou a Srta. Ivors, com uma risada, descendo a escada.
Mary Jane ficou olhando para ela, com uma expressão intrigada e contrariada no rosto, enquanto a Sra. Conroy se inclinava por sobre a balaustrada para ouvir a porta da entrada. Gabriel se perguntava se era ele o motivo daquela partida abrupta. Mas ela não parecia estar de mau humor: saíra rindo. Ele ficou olhando à toa escada abaixo.
Naquele momento tia Kate veio titubeante da sala de jantar, quase torcendo as mãos de desespero.
— Cadê o Gabriel? — ela exclamou. — Onde foi que o Gabriel se meteu? Está todo mundo esperando lá, palco aberto, e ninguém para trinchar o ganso!
— Eu estou aqui, tia Kate! — gritou Gabriel, subitamente animado, pronto para trinchar um bando de gansos, se necessário.
Um ganso gordo e pardo jazia a um canto da mesa, e no outro, sobre leito de papel vincado espargido de ramos de salsa, jazia um grande pernil, despido de sua pele externa e salpicado de migalhas de pão, um belo babado de papel à roda do osso, e ao lado dele havia um corte de carne temperada. Entre esses cantos opostos passavam paralelas duas linhas de guarnições: dois pequenos monastérios de geleia, vermelho, amarelo; um prato raso pleno de blocos de manjar branco e compota vermelha, um grande prato verde em formato de folha com cabo moldado em formato de talo, no qual havia montes de passas roxas e amêndoas descascadas, um prato do mesmo conjunto no qual havia um sólido retângulo de figos de Esmirna, um prato de creme coberto de noz-moscada ralada, uma tigela pequena cheia de chocolates e doces embrulhados em papéis dourados e prata e um vaso de vidro de que se eriçavam talos altos de aipo. No centro da mesa estavam, como sentinelas de uma fruteira que sustentava uma pirâmide de laranjas e maçãs americanas, dois antiquados decantadores atarracados de vidro jateado, um contendo porto e outro, xerez escuro. No piano de armário fechado um pudim num imenso prato amarelo estava à espera, e atrás dele havia três batalhões de garrafas de cerveja preta e clara e de água mineral, alinhados segundo as cores de seus uniformes, negros os dos primeiros, com rótulos marrons e vermelhos, branco o do terceiro e menor batalhão, com faixas verdes atravessadas.
Gabriel ocupou decidido seu lugar à cabeceira da mesa e, com uma olhada para o fio da faca, meteu o garfo com firmeza no ganso. Sentia-se agora bem calmo, pois era um trinchador de primeira e adorava se ver à cabeceira de uma mesa bem servida.
— Senhorita Furlong, qual é o seu pedido? — ele perguntou. — Uma asa ou uma fatia de peito?
— Só uma fatiazinha de peito.
— Senhorita Higgins, e o seu?
— Ah, qualquer coisa, senhor Conroy.
Enquanto Gabriel e a Srta. Daly trocavam pratos de ganso e pratos de pernil e carne temperada, Lily ia de convidado em convidado com um prato de batatas inglesas quentes, envolto em guardanapo branco. Isso tinha sido ideia de Mary Jane e ela também tinha sugerido um molho de maçã para o ganso, mas tia Kate disse que um bom gansinho assado sem nada de molho de maçã tinha sempre estado ótimo para ela e que ela esperava não ter que comer coisa pior. Mary Jane cuidava de seus alunos e garantia que recebessem as melhores fatias, e tia Kate e tia Julia abriam e traziam do piano garrafas de cerveja preta e clara para os cavalheiros e de água mineral para as senhoras. Era muita confusão, muito riso e ruído, ruído de pedidos e contrapedidos, de facas e garfos, de rolhas e tampas de decantadores. Gabriel começou a trinchar o segundo prato dos comensais assim que terminou a primeira rodada, sem se servir. Protestaram todos em alto e bom som, de modo que ele condescendeu tomando um belo gole de cerveja preta, pois tinha ficado com calor trinchando. Mary Jane se acomodou quieta para sua ceia. Mas tia Kate e tia Julia ainda titubeavam em volta da mesa, pisando uma nos pés da outra, ficando uma no caminho da outra e dando cada uma à outra desconsideradas ordens. O Sr. Browne implorou que elas sentassem e comessem e Gabriel também, mas elas disseram que não havia pressa, de modo que, finalmente, Freddy Malins levantou e, capturando tia Kate, acomodou-a na cadeira entre risos generalizados.
Quando todos tinham sido bem servidos, Gabriel disse, sorrindo:
— Agora, se alguém quiser mais um pouquinho do que as pessoas vulgares chamam de farofa, que fale ou cale- se para sempre.
Um coro de vozes o incitou a começar sua própria ceia, e Lily surgiu com três batatas que havia reservado para ele.
— Pois bem — disse Gabriel afetuosamente, enquanto tomava mais um gole preparatório —, tenham então a bondade de esquecer que eu existo, senhoras e senhores, por alguns minutos.
Ele se concentrou na ceia e não participou da conversa com que a mesa cobriu a retirada dos pratos efetuada por Lily. O tema era a companhia de ópera que estava então no Theatre Royal. O senhor Bartell D´Arcy, o tenor, um rapaz de compleição escura com um bigodinho elegante, elogiou empolgadamente a primeira contralto da companhia, mas a senhorita Furlong achava que eles tinham um estilo de produção bem vulgar. Freddy Malins disse que havia um chefe negro cantando na segunda parte da pantomima do Gaiety, dono de uma das melhores vozes de tenor que ele já ouvira.
— O senhor já ouviu ele cantar? — ele perguntou a Bartell D´Arcy do outro lado da mesa.
— Não — respondeu o Sr. Bartell D´Arcy levianamente.
— Porque — Freddy Malins explicou — agora eu ia querer saber o que o senhor achava dele. Eu acho que ele tem uma voz maravilhosa.
— Só o Teddy para descobrir as coisas boas de verdade — disse o Sr. Browne com familiaridade para a mesa.
— Mas e por que é que ele não podia ter uma voz boa? —perguntou Freddy Malins rispidamente. — Só porque ele é preto?
Ninguém respondeu essa pergunta e Mary Jane conduziu a mesa de volta à ópera legítima. Uma de suas alunas lhe dera uma entrada para Mignon. Lógico que era muito bonito, ela disse, mas ela acabou foi pensando na coitada da Georgina Burns. O Sr. Browne podia ir ainda mais longe, até as antigas companhias italianas que vinham a Dublin — Tietjens, Ilma de Murzka, Campanini, o grande Trebelli, Giugline, Ravelli, Aramburo. Bons tempos, ele disse, quando havia canto de verdade em Dublin. Ele contou também como as torrinhas do Old Royal viviam cheias, toda noite, e como uma noite um cantor italiano deu bis cinco vezes com a ária Let me like a soldier fall, colocando um dó de peito todas as vezes, e como os rapazes das galerias às vezes de tão entusiasmados soltavam os cavalos da carruagem de alguma grande prima-dona e puxavam eles mesmos a cantora pela rua até o hotel. Por que eles nunca mais levavam as grandes óperas de antigamente, ele perguntou, Dinorah, Lucrezia Borgia? Porque não arranjavam mais as vozes para cantar: era por isso.
— Pois muito bem — disse o Sr. Bartell D´Arcy —, na minha modesta opinião hoje há tantos cantores bons quanto antigamente.
— E onde é que eles estão? — perguntou o Sr. Browne, desafiador.
— Em Londres, Paris, Milão — disse o Sr. Bartell D´Arcy animadamente. — Na minha modesta opinião, Caruso, por exemplo, é tão bom quanto qualquer um dos que o senhor mencionou, se não for melhor.
— Pode até ser — disse o Sr. Browne. Mas eu devo lhe dizer que duvido muito.
— Ah, eu daria tudo para ouvir Caruso cantar — disse Mary Jane.
— Para mim — disse tia Kate, que tinha terminado de roer seu osso —, só existiu um tenor. Para o meu gosto, quer dizer. Mas eu acho que ninguém aqui ouviu falar dele.
— E quem era, senhorita Morkan? — perguntou Bartell D´Arcy educadamente.
— O nome dele — disse tia Kate — era Parkinson. Eu ouvi ele cantar quando ele estava no auge e acho que tinha a voz de tenor mais pura que Deus já deu a um homem.
— Estranho — disse o Sr. Bartell D´Arcy. — Eu nunca ouvi falar dele.
— Isso mesmo, a senhorita Morkan tem razão — disse o Sr. Browne. Eu lembro de ouvir o velho Parkinson, mas ele é antigo demais para mim.
— Um tenor inglês lindo, puro, doce, suave — disse tia Kate entusiasmada.
Como Gabriel tinha terminado, o imenso pudim foi transferido para a mesa. Começou novamente o bater de garfos e colheres. A esposa de Gabriel servia colheradas do pudim e os pratos iam passando pela mesa. A meio caminho eram detidos por Mary Jane, que os completava com geleia de framboesa ou de laranja ou manjar branco e compota. O pudim era de tia Julia, que recebeu elogios por ele, de todos os cantos. Já ela própria disse que não estava bem marrom.
— Bom, senhorita Morkan — disse o Sr. Browne —, tomara que eu esteja bem marrom na sua opinião porque, sabe como é, eu me chamo brown, não é mesmo?
Todos os cavalheiros, exceto Gabriel, comeram um pouco de pudim para agradar à tia Julia. Como Gabriel nunca comia doce tinham deixado o aipo para ele. Freddy Malins também pegou um talo de aipo e comeu com o pudim. Tinham-lhe dito que aipo era fenomenal para o sangue e ele estava em tratamento médico. A Sra. Malins, que ficara toda a ceia calada, disse que o filho estava indo para Mount Melleray dentro de mais ou menos uma semana. A mesa então falou de Mount Melleray, de como era revigorante o ar de lá, de como eram hospitaleiros os monges e de como nunca pediam um tostão aos hóspedes.
— Mas então quer dizer — perguntou o Sr. Browne incredulamente — que o camarada pode ir para lá e se acomodar como se fosse um hotel e viver à grande e aí se mandar sem pagar nadinha?
— Ah, quase todo mundo faz alguma doação para o monastério quando sai — disse Mary Jane.
— Bom seria se a gente tivesse uma instituição dessas na nossa igreja — disse o Sr. Browne candidamente.
Ele ficou chocado ao saber que os monges nunca falavam, levantavam às duas da manhã e dormiam cada um em seu caixão. Perguntou por que eles faziam uma coisa dessas.
— É a regra da ordem — disse tia Kate com firmeza.
— Tudo bem, mas por quê? — perguntou o Sr. Browne.
Tia Kate repetiu que era a regra, e pronto. O Sr. Browne ainda parecia não entender. Freddy Malins explicou, o melhor que pôde, que os monges estavam tentando compensar os pecados cometidos por todos os pecadores do mundo lá fora. A explicação não foi muito clara, pois o Sr. Browne sorriu amarelo e disse:
— Eu acho ótima a ideia, mas será que uma cama de molas bem macia não ia ser tão boa quanto um caixão?
— O caixão — disse Mary Jane — é para eles se lembrarem do seu fim definitivo.
Como o tema tinha se tornado lúgubre, ficou enterrado num silêncio da mesa, durante o qual pôde-se ouvir a Sra. Malins dizendo a sua vizinha num tom nitidamente encoberto:
— São umas pessoas ótimas, esses monges, uns homens muito pios.
Passavam-se agora as amêndoas e figos, maçãs e laranjas, chocolates e docinhos pela mesa, e tia Julia convidou todos a aceitarem fosse um porto ou um xerez. De início o Sr. Bartell D´Arcy se recusou a aceitar qualquer dos dois, mas um de seus vizinhos lhe deu um cutucão com o cotovelo e sussurrou-lhe alguma coisa, quando então ele deixou que se lhe enchesse o copo. Gradualmente enquanto enchiam-se os últimos copos cessou a conversa. Seguiu-se uma pausa, rompida apenas pelo ruído do vinho e cadeiras remexidas. As senhoritas Morkan, todas as três, mantinham os olhos na toalha. Alguém tossiu uma ou duas vezes e então alguns cavalheiros deram poucas pancadinhas na mesa pedindo silêncio. Veio o silêncio e Gabriel afastou sua cadeira e se ergueu.
As pancadinhas ficaram imediatamente mais altas para encorajá-lo e logo súbito cessaram. Gabriel apoiou seus dez dedos trêmulos na toalha e sorriu nervoso para o grupo. Encontrando uma fileira de rostos erguidos ele ergueu os olhos para o candelabro. O piano tocava uma valsinha e ele podia ouvir as saias roçando a porta da sala de estar. Havia, talvez, gente parada na neve no cais lá fora, olhando para as janelas iluminadas lá no alto e ouvindo esta valsa tocar. O ar lá era puro. À distância ficava o parque, onde as árvores restavam pesadas de neve. O monumento de Wellington trajava reluzente gorro de neve, que cintilava para o oeste sobre os alvos campos de Fifteen Acres. Ele começou:
— Senhoras e senhores, coube-me nesta noite, como em anos anteriores, uma tarefa muito agradável, mas a cuja altura receio não chegue minha capacidade de orador.
— Ora, ora! — disse o Sr. Browne.
— Mas, seja como for, hoje só posso pedir-lhes que aceitem minhas intenções em lugar de meus atos, e que me concedam sua atenção por alguns momentos enquanto tento verter em palavras meus sentimentos nesta ocasião.
— Senhoras e senhores, não é a primeira vez em que nos reunimos sob este teto hospitaleiro, em torno desta mesa hospitaleira. Não é a primeira vez em que somos o alvo — ou talvez fosse melhor dizer, as vítimas — da hospitalidade de umas certas senhoras.
Ele fez um círculo no ar com o braço e se deteve. Todos riram ou sorriram para a tia Kate e tia Julia e Mary Jane, que ficaram todas carmesins de prazer. Gabriel prosseguiu mais empolgado:
— A cada ano que passa fica mais forte em mim a sensação de que nosso país não tem tradição que o honre tanto e pela qual devesse zelar tão cuidadosamente quanto a de sua hospitalidade. Trata-se até onde me tenha sido dado ver (e já visitei não poucos lugares no exterior) de uma tradição singular entre as nações modernas. Alguns diriam, talvez, que entre nós isso é mais um defeito que algo de que nos gabarmos. Mas mesmo que se aceite isso, trata-se, em minha opinião, de um defeito principesco, e um defeito que espero que ainda cultivemos por muito tempo. De uma coisa, ao menos, estou certo. Enquanto este teto abrigar aquelas supracitadas senhoras — e desejo do fundo de meu coração que ainda as abrigue por muitos e muitos anos vindouros —, a tradição da legítima, alegre e cortês hospitalidade irlandesa, que nossos antepassados nos legaram e que devemos legar a nossos descendentes, vive ainda entre nós.
Um afetuoso murmúrio aquiescente correu pela mesa. Atravessou a cabeça de Gabriel a ideia de que a Srta. Ivors não estava lá e que tinha ido embora de maneira deseducada: e disse cheio de autoconfiança:
— Senhoras e senhores, Uma nova geração cresce entre nós, uma geração movida por novas ideias e princípios novos. Ela trata tais ideias com seriedade e entusiasmo e seu entusiasmo, mesmo quando equivocado, acredito, é basicamente sincero. Mas vivemos em tempos céticos e, se posso usar esta expressão, assolados por ideias: e por vezes temo que esta nova geração, educada ou hipereducada como seja, não terá aquelas qualidades de humanidade, de hospitalidade, de um humor gentil que pertenciam a uma era mais antiga. Ouvindo nesta noite os nomes de todos aqueles grandes cantores do passado, pareceu-me, devo confessar, que estávamos vivendo em um período menos amplo. Aqueles tempos podem, sem exagero, ser ditos tempos espaçosos: e se desapareceram da memória, esperemos, pelo menos, que em reuniões como esta falemos ainda deles com orgulho e com carinho, que ainda guardemos no peito a lembrança dos grandes que se foram, cuja fama o mundo não deixará morrer impunemente.
— Deveras! — disse alto o Sr. Browne.
— Entretanto — continuou Gabriel, com a voz caindo numa inflexão mais calma —, há sempre em encontros como este ideias mais tristes que nos hão de ocorrer; do passado, da juventude, das mudanças, dos rostos ausentes cuja falta ora sentimos. Nosso caminho pela vida é coberto de lembranças tristes como essas: e se acaso vivêssemos a lamentar esses fatos não encontraríamos o ânimo para seguir bravamente na lida entre os vivos. Temos, todos, deveres na vida e afetos na vida que exigem, e de pleno direito o exigem, nossos mais incansáveis esforços.
— Portanto, não vou me deter no passado. Não vou permitir que um tom moralizante e sombrio invada esta noite. Cá estamos nós, reunidos por um breve instante, afastados de nossos afazeres diários. Aqui nos encontramos como amigos, no espírito de companheirismo, como colegas, também, em certa medida, no verdadeiro espírito de camaraderie, e como convidados das — que nome lhes hei de dar? — das Três Graças do mundo musical de Dublin.
A mesa explodiu em aplausos e risadas diante dessa tirada. Tia Julia pediu primeiro ao vizinho de um lado e depois ao do outro que lhe dissessem o que Gabriel tinha falado.
— Ele disse que nós somos as Três Graças, tia Julia — disse Mary Jane.
Tia Julia não entendeu, mas ergueu os olhos, sorrindo para Gabriel, que continuou na mesma veia:
— Senhoras e senhores, não vou tentar assumir hoje o papel que foi de Páris em outra ocasião. Não vou tentar escolher entre elas. Tal tarefa seria desagradável e estaria além de minhas capacidades. Pois quando as considero individualmente, seja nossa anfitriã principal, cujo bom coração, cujo coração até bom demais, é algo com que podem contar todos que a conhecem; seja sua irmã, que parece dotada da eterna juventude e cuja voz há de ter sido uma surpresa e uma revelação para todos nós na noite de hoje; seja, e não ousemos esquecê-la, quando considero nossa mais jovem anfitriã, talentosa, animada, trabalhadora e a melhor das sobrinhas, eu confesso, senhoras e senhores, que não sei a qual delas devesse dar o prêmio.
Gabriel baixou os olhos para as tias e, vendo o largo sorriso no rosto de tia Julia e as lágrimas que surgiram dos olhos de tia Kate, apressou-se para concluir. Ele ergueu galante o copo de porto, enquanto cada membro do grupo digitava ansioso seu copo, e disse em alto e bom som:
— Brindemos a todas as três. Bebamos à sua riqueza, saúde, vida longa, felicidade e prosperidade, e que possam continuar a manter a altiva posição que por conta própria conquistaram em sua profissão e a posição de honra e de carinho que ocupam em nossos corações.
Todos os convidados levantaram, de copo na mão, e voltando-se para as três senhoritas sentadas, cantaram em uníssono, com o Sr. Browne de líder:
Porque elas são companheiras,
Porque elas são companheiras,
Porque elas são companheiras,
Ninguém pode negar.
Tia Kate usava abertamente o lenço e até tia Julia parecia comovida. Freddy Malins marcava o compasso com o garfo de sobremesa e os cantores se voltavam uns para os outros, como que em melodiosa conferência, enquanto cantavam enfaticamente:
Ninguém pode negar,
Ninguém pode negar.
Então, voltando-se mais uma vez para as anfitriãs, eles cantaram:
Porque elas são companheiras,
Porque elas são companheiras,
Porque elas são companheiras,
Ninguém pode negar.
A aclamação que se seguiu contagiou do outro lado da porta da sala de jantar vários dos outros convidados e se renovou repetida, Freddy Malins agindo de maestro de garfo em riste.
O ar cortante da manhã entrava no átrio em que estavam de modo que tia Kate disse:
— Alguém me feche essa porta. A senhora Malins vai morrer de frio aqui.
— O Browne está lá fora, tia Kate — disse Mary Jane.
— O Browne está por tudo — disse tia Kate, baixando a voz.
Mary Jane riu do tom dela.
— É verdade — ela disse maliciosamente —, ele é muito atencioso.
— Instalaram ele aqui que nem o gás — disse tia Kate no mesmo tom —, e tudo no Natal. Ela mesma riu dessa vez bem-humorada e então acrescentou rapidamente:
— Mas mande ele entrar, Mary Jane, e feche a porta.
Deus queira que ele não tenha me escutado.
Naquele momento a porta da frente se abriu e o Sr. Browne subiu o degrau da entrada, rindo como se seu coração fosse estourar. Ele estava com um sobretudo verde longo com punhos e colarinho de astracã de imitação e tinha na cabeça um gorro oval de pele. Apontou para a linha do cais nevado de onde vinha com o vento um assovio estridente.
— O Teddy vai chamar todos os fiacres de Dublin — ele disse.
Gabriel avançou vindo da pequena despensa atrás do escritório, lutando para entrar no sobretudo e, olhando à roda do átrio, disse.
— A Gretta ainda não desceu?
— Ela está pegando as coisas dela, Gabriel — disse tia Kate.
— Quem está tocando lá em cima? — perguntou Gabriel.
— Ninguém. Todo mundo já foi embora.
— Ah, não, tia Kate, disse Mary Jane. O Bartell D´Arcy e a senhorita O´Callaghan ainda não foram.
— Eu só sei que alguém está brincando com o piano — disse Gabriel.
Mary Jane deu uma olhada para Gabriel e para o Sr. Browne e disse estremecendo:
— Me dá frio só de ver vocês dois encasacados desse jeito. Eu é que não queria encarar a volta para casa uma hora dessas.
— Pois eu agora só queria — disse o Sr. Browne roliço — era dar uma bela de uma caminhada pelo campo ou um passeio numa charrete bem rápida com um alazão bem forte arreado.
— Nós tínhamos um cavalo e uma charrete bem bons em casa — disse tia Julia, triste.
— O inesquecível Johnny — disse Mary Jane, rindo. Tia Kate e Gabriel riram também.
— Por quê? O que é que esse Johnny tinha de maravilhoso? — perguntou o Sr. Browne.
— O falecido e lastimado Patrick Morkan, ou seja, nosso avô — explicou Gabriel —, conhecido por todos no final da vida como O Velhinho, era fabricante de cola.
— Ah, por favor, Gabriel — disse tia Kate, rindo —, ele tinha uma fábrica de goma.
— Bom, cola ou goma — disse Gabriel —, o velhinho tinha um cavalo chamado Johnny. E o Johnny trabalhava na fábrica do velhinho, andando em círculos para tocar o engenho. Até aí tudo bem; mas agora vem a parte trágica da história do Johnny. Num belo dia o velhinho achou que era uma boa ideia ir desfilar com o crème-de- la-crème numa parada militar no parque.
— Que o senhor tenha piedade da alma dele — disse tia Kate, contrita.
— Amém — disse Gabriel. — Aí o velhinho, como eu ia dizendo, arreou o Johnny e meteu sua melhor cartola e seu melhor colarinho duro e saiu em grande estilo da mansão de seus ancestrais, em algum lugar perto lá de Back Lane, eu acho.
Todos riram, até a Sra. Malins, do jeito de Gabriel, e tia Kate disse:
— Ah, por favor, Gabriel, ele não morava em Back Lane, não mesmo. Era só a fábrica que era lá.
— Lá da mansão de seus ancestrais — continuou Gabriel —, ele cavalgou com o Johnny. E tudo foi que era uma beleza até o Johnny topar com a estátua do rei Billy: e seja porque ele se apaixonou pelo cavalo em que o rei Billy está montado, seja porque achou que estava de volta à fábrica, de um jeito ou de outro, o que importa é que ele começou a andar em torno da estátua.
Gabriel caminhava em círculos à roda do átrio de galochas em meio ao riso dos outros.
— E ficou lá dando voltas — disse Gabriel —, e o velhinho, que era um velhinho muito do pomposo, tremendamente ultrajado. Ora, meu senhor! Como assim, meu senhor? Johnny! Johnny! Coisa mais descabida! Mas esse cavalo é impossível!
Os carrilhões de gargalhadas que se seguiram à imitação que Gabriel fazia do incidente foram interrompidos por uma batida ressoante na porta da entrada. Mary Jane correu para abrir e fez Freddy Malins entrar. Freddy Malins, de chapéu empurrado bem para trás e com os ombros corcovados pelo frio, bufava e fervia por causa do esforço que tinha feito.
— Só consegui um fiacre — ele disse.
— Ah, tudo bem, nós achamos outro no cais — disse Gabriel.
— Isso — disse tia Kate. — Melhor não deixar a senhora Malins parada nesse vento encanado.
A Sra. Malins desceu os degraus apoiada no filho e no Sr. Browne e, depois de muitas manobras, foi içada para dentro do fiacre. Freddy Malins entrou trôpego atrás dela e passou muito tempo acomodando a mãe no assento, com o Sr. Browne auxiliando com conselhos. Finalmente ela estava confortavelmente instalada e Freddy Malins convidou o Sr. Browne a subir no fiacre. Houve uma bela rodada de uma conversa confusa, e então o Sr. Browne subiu no fiacre. O cocheiro ajeitou o cobertor sobre os joelhos e se curvou para ouvir o endereço. A confusão ficou maior e o cocheiro recebia ordens diferentes de Freddy Malins e do Sr. Browne, cada um deles com a cabeça projetada de uma janela do fiacre. A dificuldade era saber onde deixar o senhor Browne no caminho, e tia Kate, tia Julia e Mary Jane ajudavam na discussão paradas à porta com ordens que se atravancavam e contradiziam e com uma abundância de gargalhadas. Quanto a Freddy Malins, este nem conseguia falar de tanto rir. Ele metia a cabeça para dentro e para fora da janela a cada momento arriscando demais a segurança do chapéu, e contava para a mãe como ia progredindo a discussão, até que finalmente o Sr. Browne gritou para o desorientado cocheiro por sobre o som das risadas de todos:
— Você conhece o Trinity College?
— Sim, senhor — disse o cocheiro.
— Bom, siga direto para o portão do Trinity College — disse o Sr. Browne —, que aí nós te dizemos para onde ir. Entendeu agora?
— Sim, senhor — disse o cocheiro.
— Toca reto para o Trinity College.
— Certo, senhor — disse o cocheiro.
O cavalo recebeu o chicote e o fiacre chacoalhou pelo cais entre um coro de risos e adeus. Gabriel não tinha ido até a porta com os outros. Ele estava numa parte escura do átrio olhando para o alto da escada. Uma mulher estava parada no topo do primeiro lance, também na sombra. Ele não conseguia ver-lhe o rosto mas podia ver os painéis terracota e salmão de sua saia que a sombra fazia parecerem pretos e brancos. Era sua esposa. Ela estava debruçada na balaustrada, ouvindo alguma coisa. Gabriel ficou surpreso com a imobilidade dela e esforçou- se por ouvir também. Mas pouco podia ouvir salvo o ruído do riso e da discussão na entrada, uns poucos acordes do piano e notas poucas da voz de um homem que cantava.
Ele ficou imóvel nas trevas do átrio, tentando pegar a ária que a voz cantava e olhando para sua mulher no alto. Havia graça e mistério em sua atitude como se ela fosse um símbolo de algo. Ele se perguntou de que uma mulher parada de pé na escada, ouvindo uma música distante, seria símbolo. Se fosse pintor ele a pintaria naquela atitude. Seu chapéu azul de feltro lhe realçaria o bronze do cabelo contra o escuro e os painéis escuros da saia destacariam os mais claros. Música distante ele intitularia o quadro se fosse pintor.
A porta da entrada fechou, e tia Kate, tia Julia e Mary Jane vieram pelo átrio, rindo ainda.
— Mas não é um terror esse Freddy? — disse Mary Jane. Ele é um terror.
Gabriel não abriu a boca, mas apontou para a escada, onde estava parada sua esposa. Agora que a porta da entrada estava fechada a voz e o piano faziam-se ouvir com mais clareza. Gabriel ergueu a mão para que elas fizessem silêncio. A canção parecia estar na antiga tonalidade irlandesa e o cantor parecia não confiar nem no que lembrava da letra nem no que tinha de voz. A voz, transformada em lamento pela distância e pela rouquidão do cantor, iluminava vagamente a cadência da ária com palavras que expressavam uma dor:
Ah, a chuva cai em meus cachos pesados
E o orvalho molha a pele,
Meu filho jaz frio...
— Ah — exclamou Mary Jane. — É o Bartell D´Arcy cantando, e ele que não quis cantar a noite toda. Ah, eu vou ver se ele canta uma canção antes de ir embora.
— Faça isso mesmo, Mary Jane — disse tia Kate.
Mary Jane passou pelos outros e correu para a escada, mas antes de chegar a ela o canto cessou e o piano súbito fechou-se.
— Ah, mas que pena! — ela gritou. — Ele está descendo, Gretta?
Gabriel ouviu sua esposa dizer que sim e a viu descer até eles. Alguns passos atrás dela vinham o Sr. Bartell D´Arcy e a Srta. O´Callaghan.
— Ah, senhor D´Arcy — gritou Mary Jane —, é pura maldade sua parar assim no meio quando nós estávamos todos aqui ouvindo encantados.
— Eu peguei no pé dele a noite toda — disse a Srta. O´Callaghan —, e a senhora Conroy também, e ele disse que estava com um resfriado horrível e não podia cantar.
— Ah, senhor D´Arcy — disse tia Kate —, mas que mentira mais feia.
— Mas a senhora não está vendo que eu estou rouco que nem um corvo? — disse o Sr. D´Arcy áspero.
Ele entrou apressadamente na despensa e vestiu o sobretudo. Os outros, assustados com sua réplica rude, não encontravam o que dizer. Tia Kate cerrava o cenho e fazia sinais para os outros deixarem aquilo quieto. O Sr. D´Arcy estava parado embrulhando cuidadosamente o pescoço, com uma cara feia.
— É o tempo — disse tia Julia, depois de uma pausa.
— É, todo mundo fica resfriado — disse tia Kate prontamente —, todo mundo.
— Dizem — disse Mary Jane — que fazia trinta anos que não nevava desse jeito, e eu li hoje de manhã no jornal que a nevasca é geral em toda a Irlanda.
— Eu adoro olhar a neve — disse tia Julia, triste.
— Eu também — disse a Srta. O´Callaghan. — Acho que o Natal só é Natal de verdade quando tem neve no chão.
— Mas o coitado do senhor D´Arcy não gosta de neve — disse tia Kate, sorrindo.
O Sr. D´Arcy saiu da despensa, todo embrulhado e abotoado, e num tom arrependido lhes contou a história de seu resfriado. Todos lhe deram conselhos e disseram que era pena mesmo e o mandaram tomar muito cuidado com aquela garganta no ar da noite. Gabriel observava a esposa, que não se juntou à conversa. Estava parada bem embaixo do empoeirado vidro semicircular que encimava a porta e a chama do gás acendia-lhe o bronze do cabelo, que ele a tinha visto secar ao fogo dias antes. Ela estava com a mesma atitude e parecia não se dar conta da conversa a sua volta. Finalmente ela se virou para eles e Gabriel viu que havia cor no rosto dela e que seus olhos brilhavam. Uma súbita maré de alegria saiu-lhe aos saltos do peito.
— Senhor D´Arcy — ela disse —, como é o nome daquela música que o senhor estava cantando?
— Ela se chama The lass of Aughrim — disse o Sr. D´Arcy —, mas eu não consegui lembrar direito. Por quê? A senhora conhece?
— The lass of Aughrim — ela repetiu. — Eu não conseguia pensar no nome.
— É uma ária muito bonita — disse Mary Jane. — Eu lamento muito o senhor não estar com a voz boa hoje.
— Ora, Mary Jane — disse tia Kate —, não incomode o senhor D´Arcy. Eu não quero que ele fique incomodado.
Vendo que estavam todos prestes a partir, ela os pastoreou pela porta, onde se disseram todos boa noite:
— Boa noite, então, tia Kate, e obrigado pela ótima noite.
— Boa noite, Gabriel. Boa noite, Gretta!
— Boa noite, tia Kate, e muito obrigada mesmo. Boa noite, tia Julia.
— Ah, boa noite, Gretta, eu não tinha te visto.
— Boa noite, senhor D´Arcy. Boa noite, senhorita O´Callaghan.
— Boa noite, senhorita Morkan.
— Boa noite, mais uma vez.
— Boa noite, todo mundo. Se cuidem no caminho.
— Boa noite. Boa noite.
A manhã ainda estava escura. Uma luz amarela apagada toldava as casas e o rio; e o céu parecia estar descendo. O chão estava empapado, e apenas faixas e trechos de neve restavam nos tetos, nos parapeitos do cais e nas grades das casas. Os postes ainda ardiam rubros no ar sombrio e, do outro lado do rio, o palácio das Quatro Cortes erguia-se ameaçador contra o céu pesado.
Ela andava à frente dele com o Sr. Bartell D´Arcy, sapatos num pacote pardo enfiado sob um braço e mãos mantendo a saia longe da lama. Ela não tinha mais nenhuma graça de atitude, mas os olhos de Gabriel ainda brilhavam de alegria. O sangue seguia-lhe aos saltos pelas veias e as ideias assaltavam seu cérebro, altivas, alegres, ternas, valorosas.
Ela andava à frente dele tão leve e tão ereta que ele ardia por correr atrás dela silencioso, agarrá-la pelos ombros e dizer-lhe algo tolo e delicado ao pé do ouvido. Ela lhe parecia tão frágil que ele ardia por defendê-la contra algo e então se ver a sós com ela. Momentos da vida conjunta dos dois irrompiam como estrelas na memória dele. Um envelope heliotrópio repousava ao lado da xícara do café da manhã dele e ele o afagava com a mão. Pássaros piavam na hera e a teia ensolarada da cortina cintilava pelo chão: ele não conseguia comer, de tão feliz. Eles estavam parados na plataforma cheia de gente e ele colocava um bilhete dentro da palma cálida da luva dela. Ele estava parado com ela no frio, olhando por uma janela de grades, vendo um homem que fazia garrafas numa fornalha ardente. Estava muito frio. O rosto dela, cheiroso no ar gélido, estava bem próximo ao dele, e súbito ela disse para o homem da fornalha:
— Está quente o fogo, senhor?
Mas o homem não ouviu por causa do barulho da fornalha. Melhor. Ele podia ter respondido de um jeito mal-educado.
Uma onda de alegria ainda mais terna escapou-lhe do peito e correu-lhe numa maré cálida pelas artérias. Quais terno fogo de estrelas, momentos da vida conjunta dos dois, de que ninguém sabia ou jamais saberia, irromperam e iluminaram-lhe a memória. Ele ardia por lembrar a ela esses momentos, por fazê-la esquecer os anos de sua existência conjunta apagada e lembrar somente seus momentos de êxtase. Pois os anos, ele sentia, não haviam esfriado a alma dele ou a dela. Os filhos, a lida literária dele, os deveres domésticos dela não tinham esfriado o terno fogo de suas almas. Em uma carta que escreveu para ela ele havia dito: Por que será que palavras como essas me parecem tão apagadas e tão frias? Será porque não há palavra que seja terna o bastante para ser teu nome?
Quais música distante, essas palavras que escrevera anos antes vieram-lhe no vento do passado. Ele ardia por se ver sozinho com ela. Quando os outros tivessem ido embora, quando ele e ela estivessem em seu quarto de hotel, então é que estariam a sós. Ele diria baixinho:
— Gretta!
Talvez ela não ouvisse de pronto: estaria se despindo. Então algo na voz dele chamaria a atenção dela. Ela se voltaria para olhar para ele...
Na esquina da Winetavern Street eles viram um fiacre. Ele agradecia seu chacoalhar que o salvava da conversa. Ela olhava pela janela e parecia cansada. Os outros disseram somente umas poucas palavras, apontando alguma casa, alguma rua. O cavalo galopava fatigado sob o sombrio céu da manhã, arrastando sua velha caixa chacoalhante a seus calcanhares, e Gabriel estava de novo num fiacre com ela, galopando para pegar o barco, galopando para a lua de mel.
Quando o fiacre atravessava a ponte O´Connell, a Srta. O´Callaghan disse:
— Dizem que a gente nunca atravessa a ponte O´Connell sem ver um cavalo branco.
— Eu estou vendo um homem branco desta vez — disse Gabriel.
— Onde? — perguntou o Sr. Bartell D´Arcy.
Gabriel apontou para a estátua, em que repousavam montes de neve. Então ele a cumprimentou familiarmente com a cabeça e um aceno de mão.
— Boa noite, Dan — ele disse animado.
Quando o fiacre encostou na frente do hotel, Gabriel saltou e, apesar dos protestos do Sr. Bartell D´Arcy, pagou o cocheiro. Ele deu um xelim além da conta ao homem. O homem cumprimentou e disse:
— Próspero Ano-Novo, senhor.
— O mesmo para você — disse Gabriel cordialmente.
Ela se apoiou um momento no braço dele ao sair do fiacre e enquanto se punha de pé no meio-fio, dando boa-noite aos outros. Apoiou-se de leve no braço dele, tão leve quanto ao dançarem algumas horas antes. Ele havia se sentido orgulhoso e feliz naquele momento, feliz por ela ser sua, orgulhoso de sua graça e de seu porte de senhora. Mas agora, depois de tantas lembranças novamente acesas, o primeiro toque do corpo dela, musical e estranho e perfumado, comunicou-lhe agudo acúleo de luxúria. Escondido sob o silêncio dela ele apertou bem o braço dela contra seu flanco e, quando pararam na porta do hotel, sentiu que tinham escapado de suas vidas e de seus deveres, escapado de casa e amigos e fugido juntos com corações loucos e radiantes, rumo a nova aventura.
Um velho dormitava numa grande poltrona de espaldar alto na entrada do hotel. Ele acendeu uma vela no escritório e foi na frente deles rumo à escada. Eles o seguiram em silêncio, seus pés caindo em baques leves nos degraus de tapetes grossos. Ela subia a escada atrás do porteiro, a cabeça curvada na ascensão, os frágeis ombros dobrados como sob um fardo, cingida justa pela saia. Ele teria sido capaz de abraçar-lhe o quadril e segurá-la ali, pois seus braços tremiam de desejo de agarrá-la e somente a tensão de suas unhas contra as palmas das mãos mantinha o louco impulso de seu corpo contido. O porteiro estacou na escada para ajeitar a vela gotejante. Eles, também, estacaram, nos degraus abaixo dele. No silêncio Gabriel podia ouvir a queda da cera derretida no aparo e os socos de seu próprio coração contra as costelas. O porteiro os conduziu por um corredor e abriu uma porta. Ele então depôs a instável vela numa mesinha e perguntou a que horas eles desejavam ser despertos.
— Oito — disse Gabriel.
O porteiro apontou para o interruptor da luz elétrica e começou a resmungar suas desculpas, mas Gabriel o interrompeu.
— Nós não precisamos de luz. Já vem bastante luz da rua. E por falar nisso — ele acrescentou, apontando para a vela —, pode levar aquele belo item ali, seja bonzinho.
O porteiro pegou de novo sua vela, mas lentamente, pois estava surpreso com uma ideia tão estranha. Então resmungou um boa-noite e saiu. Gabriel trancou a porta.
A luz fantasmática do poste da rua estendia-se num feixe longo de uma janela até a porta. Gabriel jogou sobretudo e chapéu num sofá e atravessou o quarto indo até a janela. Olhou para a rua com a finalidade de dar a suas emoções uma chance de se acalmarem um pouco. Então ele se voltou e se encostou numa cômoda de costas para a luz. Ela havia tirado o chapéu e o casaco e estava de pé diante de um grande espelho giratório, soltando os ilhoses da cintura. Gabriel deteve-se por alguns momentos, observando, e então disse:
— Gretta!
Ela afastou os olhos do espelho lentamente e caminhou pelo feixe de luz até ele. Seu rosto parecia tão sério e fatigado que as palavras se recusavam a passar pelos lábios de Gabriel. Não, ainda não era o momento.
— Você está parecendo cansada — ele disse.
— Um pouquinho — ela respondeu.
— Você não está se sentindo doente ou fraca?
— Não. Cansada: só isso.
Ela foi até a janela e parou lá, olhando para fora. Gabriel esperou mais uma vez e então, temendo estar prestes a perder a confiança, disse abruptamente:
— Aliás, Gretta!
— O que foi?
— Sabe aquele coitado do Malins? — ele disse rapidamente.
— Sei. O que tem ele?
— Bom, coitado, ele é um sujeitinho decente, no fundo — continuou Gabriel, numa voz falsa. — Ele me devolveu o soberano que eu tinha emprestado, e eu nem estava esperando. É uma pena ele não ficar mais longe daquele Browne, porque ele nem é um sujeito ruim.
Ele agora tremia de irritação. Por que ela parecia tão alheada? Ele não sabia como podia começar. Será que ela também estava irritada com alguma coisa? Se ela pelo menos virasse para ele ou viesse a ele por conta própria! Tomá-la como estava seria brutal. Não, ele primeiro tinha que ver algum ardor nos olhos dela. Ele ardia por dominar seu estranho estado de espírito.
— Quando foi que você emprestou uma libra para ele? — ela perguntou, depois de uma pausa.
Gabriel lutou para se conter e não empregar expressões brutais a respeito do bebum do Malins e daquela moeda. Ele ardia por clamar por ela do fundo da alma, apertar o corpo contra o dela, dominá-la. Mas disse:
— Ah, no Natal, quando ele abriu aquela lojinha de cartões de natal, na Henry Street.
Ele estava num tal furor de raiva e desejo que não a ouviu chegar vindo da janela. Ela ficou um instante parada diante dele, olhando-o estranhamente. Então, pondo-se de súbito na ponta dos pés e apoiando levemente as mãos nos ombros dele, ela o beijou.
— Você é uma pessoa muito generosa, Gabriel — ela disse.
Gabriel, tremendo de deleite com o beijo repentino e com a singularidade da frase, pôs as mãos no cabelo dela e começou a afagá-lo, mal tocando-o com os dedos. Lavado, ele ficara fino e brilhante. O coração dele transbordava de felicidade. Bem quando ele estava desejando que ela o fizesse ela viera até ele por vontade própria. Talvez os pensamentos dela estivessem emparelhados com os dele. Talvez ela tivesse sentido o desejo impetuoso que estava nele, e então sentira vontade de se entregar. Agora que ela caíra tão facilmente diante dele, ele ficava pensando por que tinha perdido a confiança.
Ficou parado, segurando a cabeça dela entre as mãos. Então, passando rapidamente um braço em torno do corpo dela e puxando-a para si, ele disse baixinho:
— Gretta, querida, no que você está pensando?
Ela não respondeu nem se entregou totalmente ao braço dele. Ele disse uma vez mais, baixinho:
— Me diga o que é, Gretta. Eu acho que sei o que está acontecendo? Será que eu sei?
Ela não respondeu imediatamente. E então disse num jorro de lágrimas:
— Ah, eu estou pensando naquela música, " The lass of Aughrim".
Ela se libertou dele e correu para a cama e, lançando os braços sobre a guarda, escondeu o rosto. Gabriel ficou congelado por um momento, desorientado, e então foi atrás dela. Quando passou diante do espelho ele se viu de corpo inteiro, a camisa larga e bem cheia, o rosto cuja expressão sempre o intrigara quando vista no espelho, e os reluzentes óculos de aros dourados. Estacou a uns poucos passos dela e disse:
— O que tem a música? Por que ela está te fazendo chorar?
Ela ergueu a cabeça dos braços e secou os olhos com as costas da mão como uma criança. Um tom mais doce do que ele pretendia entrou em sua voz.
— Por quê, Gretta? — ele perguntou.
— Eu estou pensando em uma pessoa há muito tempo que cantava aquela música.
— E quem era essa pessoa há muito tempo? — perguntou Gabriel, sorrindo.
— Era uma pessoa que eu conhecia em Galway quando estava morando com a minha avó — ela disse.
O sorriso morreu no rosto de Gabriel. Uma raiva apagada começava a se formar em algum canto de sua mente e os fogos apagados de seu desejo começaram a reluzir ferozes nas veias dele.
— Alguém por quem você estava apaixonada? — ele perguntou ironicamente.
— Era um rapaz que eu conhecia — ela respondeu —, chamado Michael Furey. Ele cantava aquela música, " The lass of Aughrim". Ele era muito delicado.
Gabriel estava calado. Não queria que ela pensasse que ele estava interessado naquele menino delicado.
— Eu consigo ver o rosto dele tão nitidamente — ela disse, depois de um momento. — Ele tinha uns olhos: tão grandes, tão escuros! E que expressividade naqueles olhos — uma expressividade!
— Ah, então, você estava apaixonada por ele? — disse Gabriel.
— Eu saía com ele — ela disse — quando estava em Galway.
Uma ideia voou pela mente de Gabriel.
— Talvez tenha sido por isso que você quis ir para Galway com aquela Ivors? — ele disse friamente.
Ela olhou para ele e perguntou surpresa:
— Para quê?
Seus olhos fizeram Gabriel se sentir constrangido. Ele deu de ombros e disse:
— E eu é que vou saber? Para ver esse rapaz, talvez.
Ela desviou dele os olhos ao longo do feixe de luz para a janela em silêncio.
— Ele está morto — ela disse por fim. Morreu com dezessete aninhos. Não é uma coisa horrorosa morrer tão novo assim?
— Ele era o quê? — perguntou Gabriel, ainda ironicamente.
— Trabalhava na usina de gás — ela disse.
Gabriel se sentia humilhado pelo fracasso de sua ironia e pela evocação dessa figura de entre os mortos, um menino da usina de gás. Enquanto ele estava tomado de memórias de sua vida conjunta secreta, tomado de ternura e de alegria e de desejo, ela o estava comparando mentalmente a um outro. Uma consciência vergonhosa de sua própria pessoa o tomou de assalto. Ele se viu como uma figura ridícula, fazendo de garoto de recados para as tias, um sentimentalista nervoso e bem- intencionado, perorando para o vulgo e idealizando suas próprias luxúrias afobadas, o sujeito fátuo e reles que entrevira no espelho. Instintivamente virou as costas mais para a luz para que ela não pudesse ver a vergonha que lhe ardia na testa.
Ele tentou manter seu tom de fria interrogação, mas sua voz, quando falou, era humilde e indiferente.
— Acho que você foi apaixonada por esse Michael Furey, Gretta — ele disse.
— A gente se dava muito bem naquela época — ela disse.
A voz dela era velada e era triste. Gabriel, sentindo agora quanto seria vão tentar levá-la aonde planejara, afagou-lhe uma das mãos e disse, triste também:
— E de que foi que ele morreu assim tão novo, Gretta?
Foi de tuberculose?
— Acho que ele morreu por mim — ela respondeu.
Um vago terror tomou Gabriel com essa resposta, como se, bem no momento em que esperara triunfar, algum ser impalpável e vingativo se estivesse erguendo contra ele, reunindo forças contra ele em seu mundo vago. Mas ele se libertou dessa sensação com um esforço racional e continuou a afagar-lhe a mão. Não a interrogou mais, pois sentia que ela lhe contaria por si própria. A mão dela era quente e úmida: não respondia ao toque dele, mas ele continuava a afagá-la exatamente como tinha afagado a primeira carta que recebeu dela naquela manhã de primavera.
— Era inverno — ela disse —, mais ou menos no começo do inverno quando eu ia sair da casa da minha avó e vir para cá, para o convento. E ele estava doente na época no alojamento em Galway e não deixavam ele sair, e escreveram para a família dele em Oughterard. Disseram que ele estava em declínio, ou alguma coisa assim. Eu nunca soube direito.
Ela se deteve por um momento e suspirou.
— Coitadinho — ela disse. — Ele gostava muito de mim e era um menino tão bom. A gente saía, para passear, sabe, Gabriel, como eles fazem lá no interior. Ele ia estudar canto mas tinha isso da saúde. Tinha uma voz ótima, o coitado do Michael Furey.
— Bom; mas e aí? — perguntou Gabriel.
— E aí quando chegou a hora de eu ir embora de Galway e vir para o convento ele estava bem pior e não me deixavam ir visitar então eu escrevi uma carta dizendo que estava indo para Dublin e voltava no verão, e que eu esperava que ele estivesse melhor então.
Ela se deteve um momento para conseguir controlar a voz, e prosseguiu:
— Aí na noite antes de eu viajar, eu estava na casa da minha avó na ilha Nun, fazendo as malas, e ouvi que estavam jogando pedrinhas na janela. A janela estava tão molhada que eu não enxergava, então eu corri para o térreo do jeito que eu estava mesmo e escapei pelos fundos para o jardim e lá estava o coitadinho no fundo do jardim, tremendo.
— E você não disse para ele voltar? — perguntou Gabriel.
— Eu implorei para ele ir para casa imediatamente e disse que ele ia acabar morrendo naquela chuva. Mas ele disse que não queria viver. Eu consigo ver os olhos dele tão bem também! Ele estava de pé no canto do muro onde tinha uma árvore.
— E ele foi para casa? — perguntou Gabriel.
— Foi, foi para casa. E quando eu ainda estava na primeira semana do colégio ele morreu e foi enterrado em Oughterard, que era a terra da família dele. Ah, o dia em que eu fiquei sabendo, que ele estava morto!
Ela parou, afogada em soluços, e, dominada pela emoção, se atirou com o rosto para baixo sobre a cama, soluçando na colcha. Gabriel segurou-lhe a mão ainda por um momento, irresoluto, e então, com receio de estar se intrometendo em sua dor, deixou que a mão caísse delicadamente e foi quieto até a janela.
Ela dormia pesado.
Gabriel, apoiado no cotovelo, ficou alguns momentos olhando sem ressentimento seu cabelo emaranhado e a boca entreaberta, ouvindo-lhe o alento profundo. Então ela tivera aquele romance na vida: um homem morreu por ela. Mal lhe doía agora pensar no mísero papel que ele, seu marido, tivera na vida dela. Ele a olhava dormir, como se ela e ele nunca tivessem vivido juntos como marido e mulher. Seus olhos curiosos repousaram longamente no rosto e no cabelo dela: e, enquanto pensava no que ela teria sido naquele tempo, no tempo de sua primeira beleza de menina, uma estranha pena dela, amistosa, adentrou-lhe a alma. Ele não gostava de dizer nem para si próprio que o rosto dela não era mais lindo, mas sabia que não era mais o rosto que fizera Michael Furey encarar a morte.
Talvez ela não tivesse contado a estória toda. Os olhos dele foram para a cadeira em que ela jogara umas peças de roupa. O cordão de uma anágua pendia tocando o chão. Uma bota restava de pé, caído seu cano frouxo: seu par se estendia de lado. Ele pensava no ataque de emoções que sofrera uma hora antes. De onde viera aquilo? Do jantar da tia, de seu discurso tolo, do vinho e da dança, da descontração na despedida no átrio, do prazer da caminhada junto ao rio e sobre a neve. Coitada da tia Julia! Ela, também, logo seria uma sombra junto à sombra de Patrick Morkan com seu cavalo. Ele apanhara aquele olhar abatido no rosto dela por um momento quando ela cantava " Arrayed for the bridal". Logo, talvez, ele estaria sentado naquela mesma sala de estar, trajando preto, cartola no colo. As persianas estariam baixadas e tia Kate estaria sentada ao lado dele, chorando e assoando o nariz e contando como Julia havia morrido. Ele reviraria a mente em busca de algumas palavras que pudessem consolá-la, e encontraria apenas palavras vãs e inúteis. Sim, sim: isso aconteceria muito em breve.
O ar do quarto gelava-lhe os ombros. Ele se esticou cuidadoso por sob os lençóis e deitou ao lado da esposa. Um por um eles todos estavam virando sombras. Melhor seguir corajosamente para aquele outro mundo, no apogeu da glória de alguma paixão, que desbotar e murchar lugubremente com a idade. Ele pensava em como aquela que estava deitada a seu lado guardara trancada no peito por tantos anos aquela imagem dos olhos de seu amado quando lhe dissera que não queria viver.
Lágrimas generosas encheram os olhos de Gabriel. Ele nunca sentira isso por nenhuma mulher, mas sabia que um sentimento assim tinha que ser amor. As lágrimas se acumularam mais espessas em seus olhos e na escuridão parcial ele imaginou ver a forma de um rapaz de pé sob uma árvore gotejante. Outras formas estavam próximas. Sua alma se aproximara daquela região em que residem as vastas hostes dos mortos. Estava consciente dela, mas não podia apreender a existência atirada e cintilante de tais hostes. Sua própria identidade estava desbotando num mundo cinzento e impalpável: o próprio mundo sólido, que aqueles mortos um dia criaram, e em que viveram, dissolvia-se e minguava.
Uns poucos baques fracos contra o vidro fizeram-no virar para a janela. Começava a nevar novamente. Ficou vendo sonolento os flocos, negros e prata, caindo oblíquos contra a luz do poste. Era chegada a hora de ele partir em sua jornada rumo oeste. Sim, os jornais tinham razão: a nevasca era geral em toda a Irlanda. A neve caía em cada trecho do negro planalto central, nas secas colinas, suave caía sobre o pântano de Allen e, mais a oeste, caía suave nas negras ondas rebeldes do Shannon. Caía, também, sobre todo o solitário cemitério da colina em que enterrado Michael Furey repousava. Espessa pousava deposta em rajadas nas cruzes contorcidas e nas lápides, nas pontas do estreito portão, nos espinheiros nus. Desmaiava-lhe a alma lentamente enquanto ouvia no universo a neve leve que caía e que caía, leve neve, como o pouso de seu fim definitivo, sobre todos os vivos e os mortos.